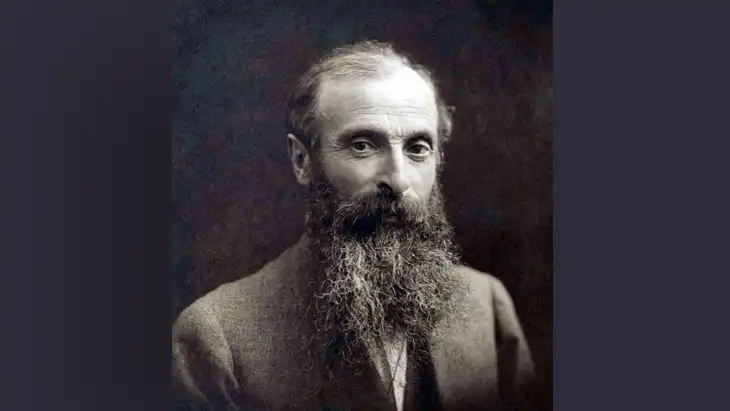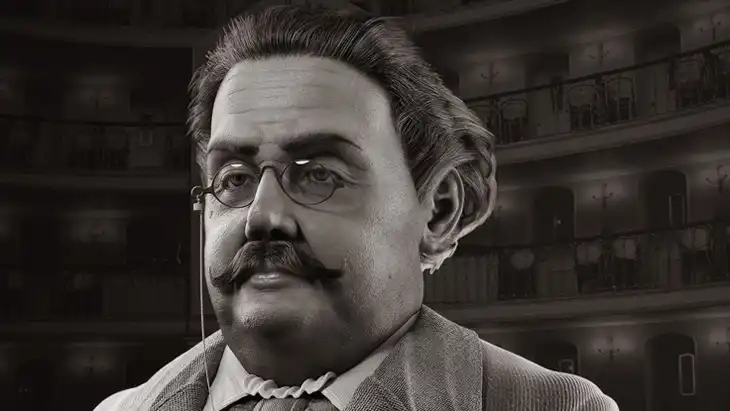“Vida Literária VI – Literatura Nacional” – Aluísio Azevedo

Literatura Nacional
I
Agora, sempre que por aí se fala de literatura nacional, diz-se que ultimamente há grande desfalecimento entre os escritores brasileiros e que diminui o numero de volumes publicados, e que só se escreve sobre finanças e sobre política.
É exato. Mas a culpa não é dos escritores; é das dificuldades que se apresentam hoje em dia para realizar a publicação de qualquer trabalho. A falecida baronesa de Mamanguape levou os seus timos anos de vida a publicar; na casa Pinheiro, um volume de versos, que nunca veio à luz e lhe abreviou naturalmente os dias de existência.
Aluízio Azevedo, tem há quase ano e meio, um volume de contos a publicar-se na casa Mont’Alverne, hoje Companhia Editora; e, apesar de haver pago adiantado a primeira folha de composição, ainda não teve o prazer de ver uma página impressa do seu livro; outros e outros homens de letras queixam-se de iguais contrariedades, e não é natural que alguém se disponha a escrever com boa vontade, tendo uma obra encalhada no prelo.
Repetimos: a culpa não é de quem escreve; a culpa é dos que imprimem. Hoje, no Rio de Janeiro, dar um livro à publicidade é quase tão difícil como viver, ou talvez mais ainda, se atendermos ao que por aí vai pelas tipografias e casas editoras.
É que no Rio de Janeiro atualmente, ninguém quer trabalhar. A febre do jogo, criada desde o ministério Ouro-Preto e desenvolvida depois pela revolução, o desespero de enriquecer forte e rapidamente, o desalento causado pelos graves prejuízos trazidos pelo descalabro de companhias, que eram a grande esperança dos ambiciosos; tudo isso transformou a maior parte da população fluminense num infernal bando de jogatineiros decavés, doidos perdidos, furiosos, desanimados, sem vintém e sem ânimo para o mais insignificante trabalho honesto.
Vai-se a uma tipografia para imprimir uma obra. Aparece-nos o dono da casa, triste, desorientado, pensando nas suas tantas mil ações sem valor, e ouve-nos distraidamente, sem conseguir ligar importância ao trabalho que lhe encomendamos; e, quando lá voltamos, o homem já nem se lembra do que lhe dissemos a primeira vez.
Mas, se apesar de tudo, a encomenda fica feita, por um preço paradoxal, e tornamos lá para ver as provas, ai! que triste espetáculo nos espera! Cada tipógrafo é também uma vítima da bolsa; cada tipógrafo tem em casa, inúteis como um baralho de bilhetes brancos de loteria, unia infinidade de títulos de companhias arrebentadas.
E, macambúzio, dedos enterrados no cabelo, cotovelos fincados na caixa de composição, cada desgraçado desses olha sonambulamente para os tipos empastelados, mortos, emudecidos e cobertos de pó, e não encontra em si coragem para compor um paquet.
Compor! Trabalhar! Para quê?… Para receber uma soldada que, com os preços atuais do pão, mal chega para não morrer de fome?… Ganhar 5$000 por dia, quando, se não rebentasse tal companhia ou banco tal, deveríamos empolgar 300 ou 400 contos?… Não! definitivamente não há valor de homem capaz de ir até lá!
E o tipógrafo, convencido de que não vale a pena trabalhar tão resignadamente para ganhar tão pouco, faz como a maior parte dos operários, toma o chapéu, despede-se da casa em que está empregado, e sai de cabeça baixa e o coração encharcado de desalento; vai pedir dinheiro emprestado a um amigo, ou empenhar alguma joiazinha da mulher, para correr à roleta, que nada mais e do que a caricatura da bolsa; a roleta a ultima esperança de lucro rápido; a roleta, donde o infeliz nunca mais voltará ao trabalho e à dignidade da vida, porque a engrenagem daquela máquina infernal jamais largou a presa que lhe caiu nos dentes!
E diz o dono da tipografia, quando o autor vai à vigésima vez, pelas provas do seu pobre livro:
– Vê, meu caro senhor?… Estou sem gente!… Os operários foram-se todos! Estou disposto a pagar o duplo do que pagava dantes, mas ninguém aparece! E se isto continua assim – fecho a porta!
E a verdade inteira é que este dono de tipografia está morrendo por fazer como fez o tipógrafo: correr à roleta! Correr à tavolagem!
E lá, em volta dos malditos trinta e oito números, de 0O a 36, ou à música implacável do Trente et quarente irá ele encontrar como em uma praia de desilusão todos esses náufragos da megalomania, arrojadas à casa do jogo pelas ondas do oceano da bolsa.
Todos lá vão ter, desde o assombroso titular até o magro poeta, que interrompeu os estudos, para meter-se no ensilhamento. Banqueiros, doutores, funcionários públicos, artistas, caixeiros, todos, todos!
Triste e desconsoladora romaria que só tem uma fé – ganhar. Só tem uma esperança – levar a banca à glória.
Todos e tudo lá vão ter à praia da tavolagem. Sim, meus senhores, aqueles belos carros, aqueles cavalos de raça, aqueles diamantes, tudo isso rolará para sempre na areia e, com os tipos da composição e com as páginas, os poetas e prosadores.
II
Ontem encontrei de novo o meu querido romancista Ernesto Branco. Vinha ainda com o ar enfastiado e, ao ver-me, foi logo me passando o braço pela cintura e levando-me para a confeitaria dos pássaros.
– Estou furioso contigo! disse me ele, quando nos assentamos, e depois que o garçon se afastou para ir buscar uma garrafa de cerveja. – Furioso, mas o que se pode chamar “Furioso!”.
– Por quê?
– Por causa do tal artigo de ontem Li a tua detestável Vida Literária! Aquilo não se faz! É uma infâmia!
– Mas o que fiz eu?
– Fizeste pilhéria com as letras!
– Ora!
– Ora não! Não admito que se brinque com a cousa mais séria que há no mundo! Não admito que se meta a ridículo a Literatura, a sagrada e imaculada arte de escrever! Sabes tu o que é um poeta pobre, meu amigo? sabes quanto é venerável essa criatura de sapatos rotos, que só vive da amarga desgraça de não ser imbecil ou medíocre, e que vai atravessando cinicamente e corajosamente a dantesca escala de todas as torturas e de todas as misérias, olhos fitos no ideal e pé calcado sobre a convenção burguesa e sobre as conveniências sociais?
Sabes tu o que é esse sombrio boêmio que a multidão acotovela e que os felizes desdenham e odeiam; esse negro espetro que tem a alma branca e palpitante como as estrelas da manhã? Esse, que entre toda essa magra canalha que luta inconscientemente para comer e respirar sobre a terra, é o único que sofre, porque é o único que tem inteira consciência da lama em que se arrasta, com as asas inutilizadas pelo lodo da miséria? esse é o poeta, e ao poeta tu ofendeste com as tuas abomináveis chufas de cabotin de imprensa! Queres fazer graça? Que diabo! imita o Pierrot ou o Clown; toma as marionetes do governo; enfileira-as defronte de ti, sobre a tua mesa de trabalho, e pinta-lhes bigodes; põe-lhes chifres; puxa-lhes pela língua até ao umbigo; rasga-lhes a boca até às orelhas; prega-lhes rabos de papel; dá-lhes piparotes no nariz; toma-as entre as palmas da mãe e boleia-as até reduzi-las a uma grande pílula; atira com esta ao ar, torna a apanha-la, torna a atira-la; deixa-a cair ao chão; levanta-a com ponta do pé; atira-lhe outro antes que ela torne a cair; mas, por amor de Deus, por amor de quem mais ames! não fales de carne seca, quando falares de poesia! não exijas versos aos poetas que dormem para não ver o que vai pela República! não peças gracejando obra literária, quando o nosso país geme apunhalado por um salteador político!
– Mas, por isso mesmo, respondi eu, esquentando-me também. Por isso mesmo que o Brasil chora de dor; por isso que o Brasil é traído, é saqueado, é reduzido a ruínas, é que os poetas deviam erguer-se cheios de indignação e arrancar das liras, ao menos para dar com elas na cabeça do governo! Tu mesmo, que estás aí a declamar a favor deles; porque não atiras agora ao público um livro patriótico, um grito de revolta que fizesse tremer o palácio de Itamarati e gelar nas veias o sangue desses assassinos que acabam de ensangüentar o Ceará?
– Eu? Por uma razão muito simples: porque o talento é como os títulos da bolsa – sobe e baixa conforme a procura.
O meu neste momento está muito por baixo. Ainda ontem quis principiar um trabalho: dispus o papel sobre a pasta, enchi o tinteiro, acendi um charuto, assentei-me corajosamente à mesa, molhei com energia a pena e… em vez de escrever, pus-me a pensar… E em que pensava eu? Pensava em uma carta do meu senhorio que nesse dia me comunicara amavelmente a sua generosa resolução de aumentar-me 5O$OOO no aluguel da casa; pensava na minha rnenagêre que me avisara na véspera que o dinheiro que eu lhe dou agora para as despesas diárias não chega, apesar de ser quase que o duplo do que lhe dava dantes; e pensei nos escandalosos preços que me cobrava agora o alfaiate, e pensei no chapeleiro, e no sapateiro; e, insensivelmente, fui pondo a pena de parte e levantando-me para ir assentar-me à janela, a contemplar o céu.
Fez-se noite e eu continuava a pensar em cousas alheias ao meu trabalho. Lembrei-me com mágoa de um amigo meu, tão bom rapaz, tão simpático e tão bem educado, o Garcia do Amorim, que na véspera tinha sido, como muitos outros, devorado pela maldita febre-amarela; lembrei-me de o ter visto quatro dias antes, bom e esperançoso, a falar-me de seus versos e de sua próxima viagem a Roma.
Fiquei triste com esta idéia, e pus-me então a cismar no estado e no destino desta pobre terra em que vegetamos, acabrunhados pela peste, pelo calor, pela infernal carestia da vida, ameaçados a todos os instantes pela guerra civil… Pobre República viúva! Pobre noiva a quem arrancaram o esposo ainda na lua-de-mel, para entregá-la à prostituição, para entregá-la à torpe sensualidade da maruja! Ah! maldito Floriano! maldita raça de traidores!
E de todos esses negros pensamentos ficou-me no espírito uma surda amargura, uma funda e dura tristeza, um vago desejo de desertar desta infeliz pátria, correndo à procura de um lugar onde se respire um ar menos assassino, onde a vida não seja tão amarga e tão tenebrosa, onde se não vejam cair tantas vítimas da peste e onde se não encontrem pelas praias cadáveres boiando misteriosamente. E uma dor imensa, terrível, sem esperanças de remédio, apoderou-se de mim e fez-me amaldiçoar a hora em que vim ao mundo. Imagina se trabalhei!
– E por que não aproveitaste a tua própria dor para fazer uma obra? Por que não fizeste da tua dor um poema?
– Porque era verdadeira demais para isso! Desconfia das lágrimas descritas em prosa e verso. A dor legítima é egoísta, é besta, é inútil, não serve senão para doer! A arte nasceu para cantar e não para chorar!
Ia replicar, metendo as botas no governo, mas o meu amigo cortou-me a palavra, segredando-me rapidamente:
– Caia-te! Esse sujeito que se assentou agora atrás de ti é um espião de polícia… Cuidado!
Embucbei.