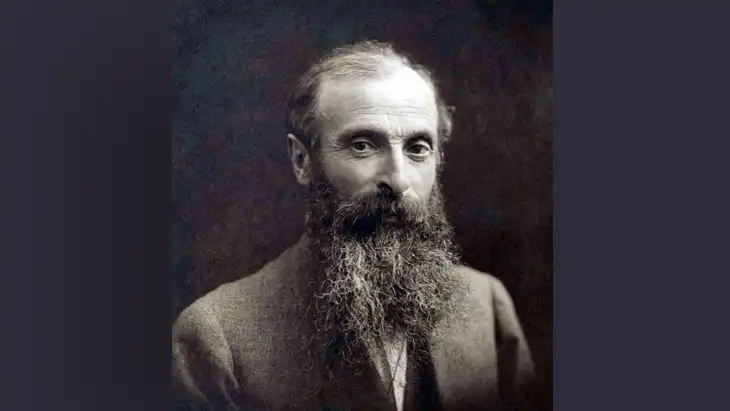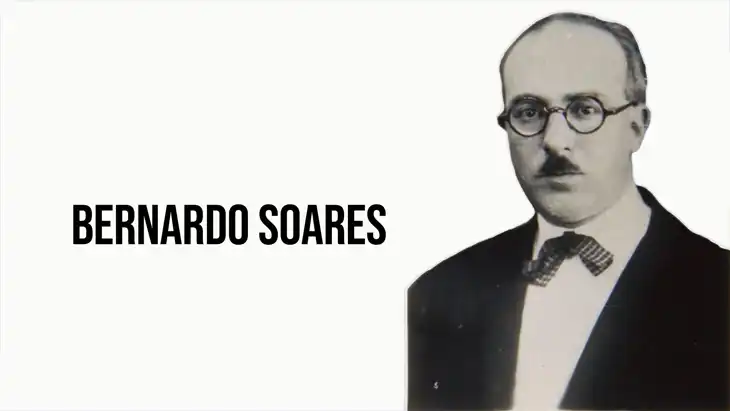“O Sobrenatural” – Florbela Espanca

O Sobrenatural
Naquela noite de Inverno, num dos acanhados mas confortáveis gabinetezinhos do clube, eram seis a festejar uma data, uma data memorável e festiva que nenhum dos seis sabia ao certo qual era: três rapazes e três raparigas, destas a que o mundo, numa amarga e prazenteira ironia, costuma alcunhar “de vida fácil”.
Os rapazes eram, três oficiais de marinha, três primeiros-tenentes. O mais velho, Castro Franco, um belo espécime de estoira-vergas que andava na vida sempre como se andasse embarcado: à mercê das ondas. Inteligentíssimo e muito culto, cheio de originalidade e de uma graça à parte, tinha na sociedade a má reputação que, não sei como, costumam fazer-se os seres verdadeiramente inteligentes e bons. Uns diziam que era um bêbedo, alguns morfinômano, outros devasso; os mais benevolentes chamavam-lhe maluco. Ele ria-se, e deixava correr. A propósito da sua má reputação, citava muitas vezes o conhecido provérbio árabe: os cães ladram… a caravana passa. E a caravana lá ia passando, por vezes no meio de latidos infernais. O outro, Paulo Freitas, rapaz elegante, loiro, sempre de monóculo, um grande amigo de Castro Franco, de quem era a sombra quer de dia quer de noite. Rapaz ordenado, metódico, prático, passava tormentos e gastava torrentes de saliva na missão que se propusera de fazer entrar o outro no bom caminho, como ele dizia. Inútil saliva e vãos tormentos! Castro Franco desnorteava-o; sempre vário, pitoresco, fantasista, só era imutável em três coisas: na variedade, no pitoresco e na fantasia. Não tinha horas de comer nem de dormir, não sabia o valor do dinheiro nem do tempo; deitava, às mãos-cheias, numa suprema e inútil prodigalidade, pela janela fora, o primeiro e o segundo. Era o castigo das ordenanças que andavam sempre atrás dele, à procura dele, a lembrar-lhe tudo, a puxar-lhe pela casaca a toda a hora. O outro, um belo rapaz moreno e forte, tipo peninsular, com uns soberbos olhos claros, cheios de profundeza e doçura, Mário de Meneses.
No gabinete, pequenino como um beliche, quente do fumo dos cigarros, do ardor das luzes e dos corpos, ninguém se entendia; falavam todos a um tempo, numa discussão que ameaçava eternizar-se.
Tinham acabado de cear. As garrafas de Porto entravam e por muito, com graves e pesadas responsabilidades, na exaltação e no impetuoso entusiasmo da discussão. A voz de duas das raparigas elevava-se, aguda e penetrante, acima do troar das vozes deles, como o ruído que numa estrada à beira-mar produzem as rodas de um carro de bois.
Só a Gatita Blanca não dizia nada. A Gatita Blanca, vestida como sempre de duras sedas brancas, fixava os olhos verdes, oblíquos e semicerrados como o dos felinos, nas volutas azuladas do fumo do cigarro que tinha entre os dedos. Era o orgulho dos clubes onde se dignava aparecer, e o encanto e a loucura dos habitués. Viera ninguém sabia donde. Falava o espanhol na perfeição, o francês e o inglês sem o mais leve defeito de pronúncia. Aparecera em Lisboa um belo dia, sozinha. Os raros amantes que lhe tinham conhecido eram escolhidos por ela, selecionados com um requinte de gosto extraordinário, entre os mais belos rapazes da sociedade.
Todos exatamente o mesmo tipo de beleza masculina: rostos enérgicos, faces duras e secas, perfis de medalhas antigas, caras onde o buril do pensamento e da ação traçara os vincos imperecíveis que, na carne, são rastos de coisas mortas que foram sonhadas e vividas.
O clã indígena tecera logo as mais variadas lendas ao seu respeito. Foi sucessivamente filha de um duque, de um grande de Espanha, intratável e severo, a quem fugira uma noite de Inverno, na companhia de um mísero estudante plebeu a quem amava; uma freira belga fugida do seu convento de Bruges; uma princesa russa, talvez, quem sabe?… a própria princesa Anastácia, a própria filha do czar da Rússia… As fantasias deitaram-se à obra, e ei-las numa azáfama, digna de melhor objetivo, a bordar sem cessar as mais belas flores quiméricas na trama do aborrecimento e da banalidade alfacinhas. Puseram-lhe o nome de Gatita Blanca por andar sempre vestida de duras sedas brancas e ter os olhos verdes, oblíquos e semicerrados dos felinos. A Gatita Blanca sabia tudo, compreendia tudo embora falasse pouco; na inquietadora imobilidade das suas atitudes, tinha realmente um não sei quê, um vago ar de mistério que inquietava e dispunha mal.
A discussão eternizava-se. Mário de Meneses, irritado, nervoso, acendia os cigarros uns nos outros, mas não bebia. Os camaradas e as duas raparigas, cálices após cálices, iam esgotando as garrafas. Eram mais pastosas, mais aveludadas as vozes deles; mais melodiosas, menos agudas as das mulheres. Uma delas, estendida no divã, fazia já uns vagos gestos de bebê que se ajeita para dormir; a outra, com a cabeça encostada à mesa, metia os caracóis loiros num prato cheio de restos de perdiz.
A Gatita Blanca fumava sempre, sem uma palavra. Castro Franco, já bêbedo, queria à viva força que lhe dissessem o que era um burguês. Teimava, praguejava, insistia, largava a discussão, parecia ceder, para passados momentos voltar à mesma, numa obsessão de bêbedo, numa teima que nada fazia remover, que ninguém fazia calar. Queria por força saber o que era um burguês.
— Mas, afinal, vocês não me dizem o que é um burguês?
— É todo o homem que tem dinheiro —, disse a rapariga do divã, num ar sonolento, enfastiado, de quem quer fechar uma conversa que já lhe não interessa.
— Nada disso — respondeu Castro Franco, levando a mão ao bolso. — Eu tenho aqui dinheiro… Olha, é verdade! Tenho! — prosseguiu num ar admirativo de satisfação. — Eu tenho aqui dinheiro e… não sou um burguês.
— Um burguês é um homem que tem sono às nove horas da noite — proferiu a outra rapariga.
— Também não é. Quando estou três noites sem me deitar, tenho sempre sono às nove horas da noite. Às duas da madrugada é que me passa… — rematou Castro Franco, muito sério.
— Je suis un affreux bourgeois — gaguejou Paulo Freitas, sorvendo o seu décimo cálice de Porto.
Castro Franco voltou a cabeça para ele, e com um profundo desdém:
— Nem bêbedo é original, este animal.
— Rima — respondeu o outro, num ar de grande seriedade.
Foi então que, pela primeira vez, naquela noite, se ouviu, numa frase seguida, a voz da Gatita Blanca:
— Um burguês é todo o homem que ao menos uma vez na sua vida tenha tido medo. Medo — repetiu sublinhando a palavra —, não “susto”. A vossa negregada língua tem tais sutilezas…
— Essa serve. A Gatita Blanca falou e falou bem — pontificou Castro Franco, muito solenemente, com a cabeça direita e o dedo muito espetado.
— Je suis un affreux bourgeois — disse, pela segunda vez, Paulo de Freitas.
Ninguém se dignou responder àquela gloriosa evocação de Vautel.
Mário de Meneses, mais aborrecido, mais irritado, a face torturada de tiques nervosos, acendeu o último cigarro, que deixou ficar em cima da mesa, levantou-se, dirigiu-se para a janela, onde ficou de pé a tamborilar com as pontas dos dedos nos vidros, onde a chuva traçava misteriosos sinais cabalísticos.
Toda a noite estivera maldisposto, sem saber porquê. Ficara assim logo que entrara e dera com os olhos naquela mulher, que não conhecia, que apenas entrevira na véspera à porta do clube onde um amigo comum os tinha apresentado um ao outro. Não sabia a que atribuir aquele estranho mal-estar que o desnorteava, que o alheava de tudo, a ele de ordinário tão senhor de si, tão calmo e tão equilibrado. Parecia-lhe por vezes que já a tinha visto, que a conhecera mesmo intimamente, que a amara, talvez… e ao mesmo tempo, ao ouvir-lhe a voz, nas rápidas palavras que com ela trocara, obtivera a certeza, a irrefutável certeza que nunca a tinha encontrado. Mas nesse caso donde provinha aquele singular nervosismo, de que longínquos e estranhos mundos lhe vinha aquela estranha sensação, penetrante e bizarra, de já visto, de já conhecido? Agora, enquanto os dedos lhe continuavam maquinalmente a tamborilar, na vidraça que dava para a chuvosa noite de Dezembro, aquelas notas pueris e dolorosas do minuete de Boccherini que toda a noite lhe marulhara na cabeça, ouvia vagamente, como num sonho, o eco da discussão que se avivara subitamente, mais exaltada e mais acesa do que nunca. Afinal, que lhe importava a ele quem era, donde vinha e para onde ia aquela misteriosa cabotina?! Valia bem apena estar a quebrar a cabeça! Tinha conhecido tantas! Sob tantos céus diferentes, em tantas terras que os seus pés vagabundos tinham pisado! Era evidente que não valia apena cansar-se na resolução daquela charada, procurar em que dia, em que ano, em que segundo, aquela revolta cabeça frisada se lhe encostara ao peito, na rápida e frágil embriaguez dos seus prazeres de homem, em que porto do mundo aqueles olhos verdes, oblíquos, semicerrados como os dos felinos, o tinham fitado assim… assim…
Voltou-se. Os olhos da mulher estavam fixos nele, num olhar parado que o arrepiou.
Onde, mas onde vira ele, onde sentira ele aqueles olhos?!
A voz dela, que se elevou naquele mesmo segundo, interpelando-o, não lhe trouxe à ideia nenhuma voz ouvida.
— Então, Meneses, você não nos diz se já algum dia teve medo?…
Não, tinha a certeza, a irrefutável certeza que nunca em dias da sua vida ouvira aquela voz. Aquele tom grave, sereno, aquela inflexão arrastada, um pouco cantante, não respondia a nenhuma recordação, a nenhum eco do seu passado.
Deixou a janela, onde o frio, a chuva e a escuridão carregavam como um exército, vinham impetuosamente esmagar-se, num último assalto, de encontro a uma invencível fortaleza de luz e calor. Sentou-se e, numa súbita intuição, como um relâmpago que rapidamente lhe iluminasse a vida inteira, de repente, lembrou-se.
— Já tive medo.
Castro Franco endireitou-se no divã, e olhou-o com surpresa.
— Confesso humildemente que sou um affreux bourgeois, como diz ali o Paulo, repetiu Mário de Meneses num sorriso fugitivo que mais parecia um esgar.
A mulher que tinha a cabeça encostada à mesa, levantou-a, e olhou para ele com um olhar de incredulidade. A Gatita Blanca sorriu.
Mário de Meneses pousou o cotovelo em cima da mesa, encostou à mão a bela cabeça morena onde brilhavam inúmeros fios de prata, e começou:
— Tinha eu vinte e quatro anos e era guarda-marinha. Namorava naquele tempo uma rapariga que trazia a minha crédula mocidade presa ao encanto dos seus sorrisos e das suas levianas criancices. Essa rapariga era de Lisboa, morava aqui, mas, um belo dia, em pleno Inverno, por um capricho dos vários que lhe eram habituais, resolveu ir passar as férias do Natal com uma amiga que habitava uma quinta, um solar muito antigo, ali para os lados de Queluz. E lá foi no dia vinte e dois de dezembro.
“Eu, aborrecido, irritado pela malfadada ideia, recusei-me peremptoriamente a ir vê-la. Mas, no dia vinte e quatro à tarde, sozinho, sem família, neurastênico, pus-me a evocar outros Natais, outros remotos Natais na minha província distante. Ah! O poder evocador de certas tardes, de certos momentos! A casa onde outrora, naquela noite, ardia na chaminé branca de neve o grande madeiro de azinho! Ouvi distintamente a voz longínqua e cansada de uma avó velhinha que, num crepúsculo cinzento de Inverno, fechava a porta que dava para o quintal, dizendo: “Vai cerrar-se a noite em água”, enquanto o riso da minha mãe ecoava na sala de jantar, onde punham a mesa para a consoada. “Vai cerrar-se a noite em água.” E, àquela frase, o madeiro de azinho crepitava mais alegremente na chaminé, o meu infantil egoísmo achava que era mais doce a sua luz e mais vivo o seu calor. Haveria chuva, frio e vento lá fora, pelos caminhos, mas depois da Missa do Galo haveria ali dentro, à chaminé, o madeiro de azinho a crepitar, e a meada de ouro e prata dos belos contos de fadas, que a avó sabia, desenrolar-se-ia numa milagrosa abundância, horas a fio.
Vozes queridas, vozes apagadas e mortas, como eu vos ouvi naquela tarde de Dezembro!
Era tal a minha tristeza e tão grande o meu desânimo que resolvi ir à quinta, ao tal solar, ver a rapariga. Assim fiz. Cheguei já bastante tarde. Escurecia. O sítio era lúgubre, uma cova úmida e frondosa que, à luz daquele crepúsculo e naquele estado de espírito, me pareceu sinistra. Ao fundo, mesmo ao fundo, a casa enorme de pedra escura, cercada de árvores enormes. Uma avenida muito comprida ia dar mesmo ao grande pátio, fechado por um amplo portão de ferro que uns molossos de granito, roídos de musgo, encimavam.
O homem que me acompanhava, bisonho e triste, não me disse uma palavra desde a estação até à casa, que me mostrou com um gesto. A minha opressão, o meu mal-estar eram cada vez maiores. Lembrava-me viver um conto de Dickens. Tive vontade de voltar para trás, de correr até à estação, meter-me num comboio, e voltar para Lisboa, mas lá consegui dominar-me e entrei. Felizmente, os donos do solar não o habitavam. A entrada fazia-se por ali, mas, do solar, apenas se atravessava um jardim que na escuridão me pareceu enorme, com grandes ruas ladeadas de murtas altíssimas, quase da minha altura. Aqui e ali, vultos brancos de estátuas em atitudes que me pareceram ameaçadoras; por toda a parte me apareciam, transformados em Fúrias, cabeças de Medusa, Saturnos devorando os filhos, monstros horríveis de faces contorcionadas — inofensivos mármores que, provavelmente às claras horas do dia, ostentariam as castas formas de Diana ou os voluptuosos espreguiçamentos de Ledas com cisne ou sem cisne. Dei um suspiro de alívio ao sair do labirinto das murtas e ao dar com os olhos na casa para onde um capricho tinha levado, em pleno Inverno, a minha caprichosa namorada.
Mário de Meneses fez uma pausa, bebeu uma gota de Porto do seu cálice intacto, e evitando fixar os olhos verdes da Gatita Blanca que sentia, pesados e insistentes, fixos nele, prosseguiu:
— Foi agradável o jantar; o serão, esplêndido. Conversou-se, dançou-se animadamente, e lembro-me até que, por duas vezes, a minha namorada tocou para mim, magistralmente, o pueril e doloroso minuete de Boccherini.
Chovia quando me encontrei novamente no sinistro jardim das murtas. Já não havia nenhum comboio para Lisboa. As conveniências, não permitindo que um rapaz de vinte e quatro anos dormisse debaixo do mesmo teto que abrigava os virginais sonhos da sua namorada, as mesmas conveniências pregavam comigo impiedosamente no solar, aonde ia passar o resto daquela noite.
Meus Natais, meus remotos Natais, cheios do riso traquinas da minha irmã e da voz longínqua e cansada da minha avó velhinha… “Vai cerrar-se a noite em água…” Aonde é que eles iam, onde estavam eles?!
“Deixaram-me no meu quarto. Era uma hora da noite. Estava só, só naquele casarão enorme, no fundo daquela cova sinistra. Pareceu-me estar enterrado vivo, e sem esperanças de sair dali, de ver algum dia a luz do Sol. Num grande esforço de vontade, encolhi os ombros e consegui expulsar as ideias sombrias.
A chuva tinha parado; em compensação o vento redobrava de violência, gemia, assobiava, cantarolava, rugia. Nunca ouvi um vento assim. Encostei-me a uma das janelas desconjuntadas que o vento abanava furiosamente, e olhei. A noite não estava muito escura: via as árvores, lá fora, dobrarem-se quase até ao chão; pareciam supliciados, a quem mão impiedosa fustigasse, pedindo misericórdia. Arranquei-me àquele espetáculo, que não tinha nada de folgazão, e resolvi-me a passar revista aos meus domínios.
O quarto era enorme. A vela que me tinham deixado acesa, ardendo só de um lado, dava uma luzinha que o vento, entrando pelas largas frinchas das janelas, fazia dançar, ameaçando apagá-la de vez. A cama, no alto de um estrado, parecia um catafalco. Os reposteiros de damasco, de que já nem se conhecia a cor, roídos pelos ratos, pendiam lamentavelmente em frangalhos. O teto, que a luz da vela não iluminava, perdia-se em trevas profundas e insondáveis. Num recanto, entre a cama e a parede, uma escada com a balaustrada de madeira trabalhada, que descia não sei para que tenebrosos abismos. Resolvi ir ver. Queria dormir descansado. Com a vela na mão, desci meia dúzia de degraus, e achei-me numa grande sala, igual à primeira, mas toda de pedra, sem porta nem janela nem fresta. Uma casamata de fortaleza. Tornei a subir, abanei as duas grandes portas de carvalho maciço, tranquei o melhor que me foi possível as duas janelas, deitei-me, e apaguei a luz. Dei uma volta na cama, aconcheguei os cobertores, que a noite estava fria, e preparei-me para adormecer.
Mário de Meneses calou-se e circunvagou pelo gabinete um olhar estranho, um olhar de sonâmbulo, que se cruzou com a lâmina de aço de um olhar esverdeado que o fitava ardentemente.
As duas raparigas estavam agora sentadas no divã baixinho e, muito chegadas uma à outra, estreitamente enlaçadas, com os olhos muito abertos, olhavam vagamente adiante de si. Paulo Freitas dormitava encostado à parede, com o monóculo irrepreensivelmente entalado na pálpebra. Castro Franco continuava a beber, imperturbável.
— Quando principiava a dormir —prosseguiu —, naquele rápido instante de bem-estar que ainda não é sono mas que também já não é vigília, acordei bruscamente sobressaltado. Eu estava absolutamente tranquilo, encontrava-me na plena posse das minhas faculdades intelectuais, não estava obcecado por nenhuma ideia, e não tinha medo, ainda não tinha medo…
Ouvi fortes pancadas numa das maciças portas de carvalho; um arrepio percorreu-me todo, da cabeça aos pés. Tateei, debaixo do travesseiro, a caixa dos fósforos, sentei-me na cama, e peguei na arma que à cautela tinha deixado à cabeceira. As pancadas cessaram, e então, na solidão da casa enorme, ouvi, ouvi distintamente, naquele mesmo instante, um sussurro de sedas no meio do quarto e uns passinhos leves, muito leves, correndo pela sala… frr… frr…
Confesso que tive medo. Dei um grito. Os passos cessaram. Passou um bocado. O meu coração abalava-me desesperadamente as paredes do peito.
Eu continuava com a mão enclavinhada na pistola. Arrepiado, risquei um fósforo; acendi a vela. O quarto enorme e escuro… Ninguém…
O vento continuava a uivar na noite de dezembro a sua trágica sinfonia. Levantei-me e percorri o quarto todo; ergui os frangalhos dos reposteiros roídos; não houve recanto que não esquadrinhasse; bati as paredes: tudo pedra! As portas, inabaláveis; as janelas, intactas como as tinha deixado. Desci à casamata: nada! Tornei a subir e deitei-me. Os meus nervos eram como cordas de uma lira onde o pavor pousasse os dedos.
Esperei nas trevas… frr… frr… o mesmo ramalhar de sedas… os mesmos passinhos leves… frr… frr… de um lado para o outro no quarto…
De que estranhos mundos viriam, para me povoarem a solidão do quarto naquela noite de Natal, aqueles estranhos passos?… que alma envolveriam aquelas duras sedas a ramalhar?…
E, toda a noite, os mesmos passos leves, na mesma correria… frr… frr…
Mário de Meneses, a voz entrecortada pela emoção, calou-se. Fez-se um pesado silêncio, que ninguém rompeu. Instantes depois, em voz mais firme, prosseguiu:
— De manhã, mal rompeu a aurora, corri para a estação sem me despedir de ninguém, e só respirei em Lisboa. Tive medo.
A chuva continuava a fustigar implacavelmente as vidraças. A noite, transida de frio, espreitava para dentro e queria entrar, a aquecer-se, quem sabe?… Soaram buzinas de autos na avenida deserta.
Mário de Meneses calou-se de vez, levantou-se, e foi até ao divã erguer, num gesto muito doce, uma cabeça loira que, na inconsciência do sono, resvalara quase até ao chão. Todos os outros dormiam também.
Mário de Meneses, então, sentindo, inflexível, o olhar verde fito nele, cravou pela sua vez os olhos, altivamente, no olhar da mulher de branco. Ela endireitou-se, num brusco sobressalto de rins como um jaguar, pousou o cigarro e, nuns passinhos leves, muito leves, as duras sedas brancas ramalhando… frr… frr… dirigiu-se para ele. Imóvel, o coração opresso, esperou quase sem respirar. A mulher passou-lhe os braços nus, braços frios de estátua, em volta do pescoço e, num súbito gesto de quem vai morder, esmagou a boca de encontro à sua boca num grande beijo de amor.
Quanto tempo durou aquele beijo? Quanto tempo passou depois? Uma hora? Um segundo?… Mário de Meneses nunca o soube dizer. O tempo não é de todos os mundos; o sobrenatural não tem lógica nem limites.
Quando os dois rapazes acordaram, o cigarro perfumado acabava de se consumir no cinzeiro de cristal.
Paulo Freitas, espreguiçando-se, bocejando a ponto de quase desarticular os queixos, com o irrepreensível monóculo entalado na pálpebra, foi acordar com um beijo uma das raparigas. Castro Franco fez o mesmo à outra, depois de escorripichar um último cálice de Porto.
A Gatita Blanca, os olhos esverdeados semicerrados, a boca entreaberta num misterioso sorriso, esperava.
Então, Mário de Meneses, perante o olhar atônito dos dois camaradas e o assombro das raparigas, abriu a porta de repente e desapareceu…
E nunca se soube, nunca talvez se saberá a razão porque um homem desdenhara desassombradamente o seu invejado direito, cobiçado por uma cidade inteira, de se deitar, naquele resto de noite, entre os linhos e as rendas do suntuoso leito da bela e misteriosa Gatita Blanca.
Pesquisa e atualização ortográfica: Iba Mendes (2017)