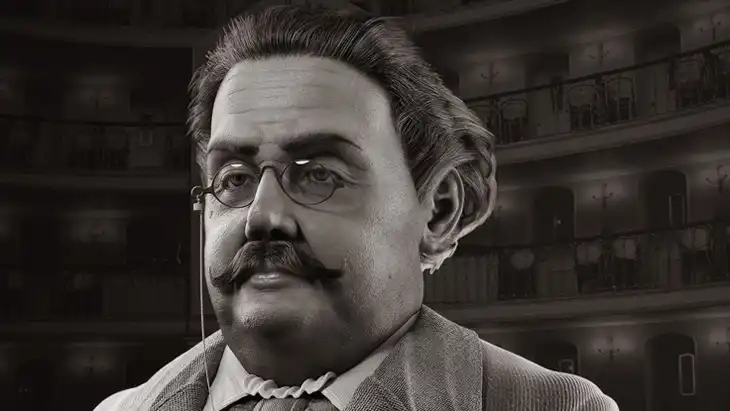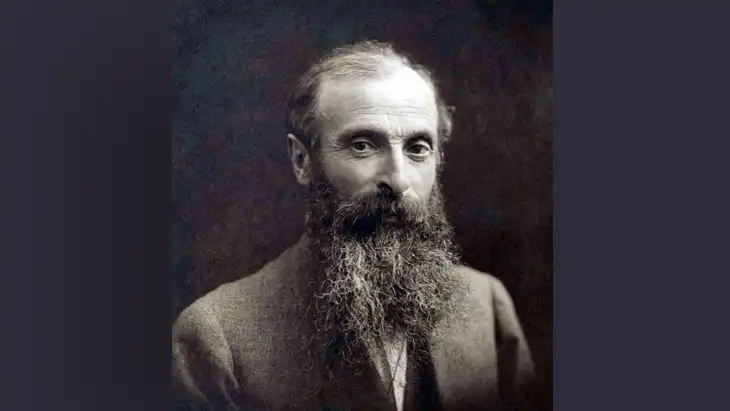“O dominó preto” – Florbela Espanca

O dominó preto
Havia já mais de oito anos que andava atrás dela. E só agora conseguira que ela se resolvesse a ouvi-lo. Há tantos anos, santo Deus! Ainda ele estava moço na mercearia da Rua dos Olivais, ainda nem sonhava que lhe haviam de dar sociedade na casa, nem tinha amealhado os seis contos de réis que tinha agora na Caixa Geral de Depósitos, já gostava dela, já gostava de a ver passar, pisando no seu passinho grácil e desenvolto a calçada de pedras pontiagudas. Os gritinhos que ela dava quando punha o pé em falso, o pé de boneca calçado de sapatinhos de verniz com saltos de palmo e meio! E quando entrava na loja! O cubículo escuro, sujo, feio, era de repente um grande salão feérico todo cheio de luzes, deslumbrante de asseio, bonito como nenhum. O pobre caixeirito, de mãos deformadas pelas frieiras, de larga cara bonacheirona e ingênua, ridículo no seu fato de cotim de mangas curtas, de cabeleira encrespada e sobrancelhas hirsutas, ficava a olhar para ela, esquecido do que lhe haviam pedido, vendo apenas na sua frente a boca fresca e os olhos gaiatos da rapariguinha risonha que, sem piedade, troçava dele constantemente. Mas que lindo riso o dela! Muito aberto, muito sonoro, enchia a casa de trilos de pássaros, mostrava-lhe os dentes todos muito sãos, muito brancos, e toda branca por dentro, muito cor-de-rosa como a polpa carnuda e sumarenta dum morango acabado de colher numa manhã de Primavera.
No banco da avenida, sob a acácia já cheinha de folhas, noite escura, o Joaquim entretinha-se a passar religiosamente as contas do seu rosário de recordações dos longos anos que passara atrás dela, inutilmente, mendigando sem se cansar um bocadinho de amor que matasse a fome e a sede ao seu corpo de adolescente casto que nunca se atrevera a seguir uma mulher pelas ruas escusas, pelos cantos misteriosos, quando a cidade cúmplice fecha os olhos e finge que dorme.
Sempre gostara daquela, daquela só, e um dia – já lá iam dois anos! – enchera-se de coragem e dissera-lho. A gargalhada que ela lhe dera na cara! Tinha-a ainda nos ouvidos, aquela divertida e escarnecedora gargalhada que lhe fizera chegar as lágrimas aos olhos.
Ele era um pobre diabo, mas queria-a, queria-a como sabem querer os rústicos das suas montanhas, queria-a como todo o ardor dos seus vinte anos, cheios de seiva como um chaparro novo, queria ganhá-la custasse o que custasse, embora tivesse de andar de rastos atrás dela a vida inteira. Tinha tempo! E assim fez: trabalhou sem descanso e sem desalento meses e meses, todos os dias do ano, quer de Inverno quer de Verão, mal luzia o Sol no alto até noite fechada, sem domingos nem dias santos. Mal pago e mal alimentado, mourejou e fez vontades, foi servo de toda a gente, com a tenaz ideia fixa encasquetada a martelo no estúpido bestunto, sem querer saber de mais nada, não dando conta do que ia pelo mundo, do que se passava para além do encardido balcão de pinho, aonde lhe ia correndo a mocidade, agrilhoado ao trabalho como um escravo.
O patrão, com o andar dos tempos deu finalmente por ele, observou-o, e um belo dia, deitando contas ao lucro que podia tirar duma bela ação, mandou-o ensinar a ler. À noite, depois da loja varrida e tudo arrumado, que o patrão não se ensaiava para lhe pregar dois murros bem puxados, o rapazito descia os dois degraus que fazia comunicar a lojeca com a úmida toca onde dormia. Ah, se as paredes pudessem falar! Um coto de vela a arder sobre a única cadeira de pau e, sentado na cama de tábuas, as mãos crispadas nos cabelos rijos, cabelos de fome, a cabeça tonta, doido de sono, o pobre lá ia decifrando as letras, soletrando, juntando as sílabas, estudando a lição para o outro dia, à custa de esforços desesperados e duma força de vontade que nenhuma força poderia vencer. Quando compreendia, a larga cara bonacheirona iluminava-se-lhe num sorriso que, entre aquelas quatro paredes, onde as aranhas teciam tranquilamente as suas teias de seda e prata fosca, era por si só um belo milagre de amor! O manancial de águas claras que na planície vai matar sedes e reverdecer os campos, jorra do seio das duras pedras das montanhas em sítios agrestes, longe e alto!
Uma noite, ao estudar a lição, deu com o nome dela: “Maria”. Soletrou-lhe as duas sílabas, de olhos arregalados, boca aberta, num êxtase, e os grossos lábios, subitamente, sem ele saber como, foram pousar-lhe no livro roto e cheio de nódoas, sobre as sílabas mágicas, enquanto as lágrimas lhe saltavam dos olhos e os soluços lhe enchiam o peito. Esteve mais de meia hora a soletrar-lhe o nome: “Ma-ria”, a olhar para as letras, sinais cabalísticos que queriam dizer tudo o que ele tinha para dizer, traços que faziam surgir, como varinhas de condão, um mundo de coisas boas, de coisas que ele nem sabia porque eram tão lindas e tão boas!
E assim foram passando os anos. A pouco e pouco foi subindo, juntando dinheiro, à custa de se privar de tudo, de economias insensatas, ia-se matando; mas conseguira juntar os seis contos de réis, que tinha na Caixa, que eram bem dele, só dele, e alcançar sociedade na casa, sociedade que também lhe dava um lucrozinho certo que não era nada para desdenhar…
E o Joaquim ria-se baixinho com um riso feliz, no seu banco da avenida, debaixo da acácia já cheinha de folhas, onde os pardais dormiam muito encostadinhos uns aos outros por causa do frio. Já tinha com que pôr a casa, um quarto ou quinto andar numa casinha acabada de construir, numa rua sossegada e limpa, que ele tinha já debaixo de olho, ali para os lados do rio. E não ficava muito longe da mercearia… poderia ir e vir todos os dias a pé, para poupar o dinheiro do elétrico… Uma mobília de quarto, de guarda-vestidos com portas de espelho… um aparador de pedra mármore… cadeiras de palhinha e um canapé para a sala… uma casa de luxo sólido, de coisas boas, que ele tinha dinheiro e não se importava de o gastar todo. Para a vida, lá se iria ganhando, e nunca haveria de faltar à Maria: o casaco de pelúcia, o seu vestidinho de seda de vez em quando e os sapatos de verniz para sair à rua… Nada! Que ele não a queria ver feita uma pobretona, de xale pelas costas e lenço na cabeça. Havia de ser uma senhora, mais linda e mais bem posta que algumas feitas à pressa que ele via por essas ruas, a fingir que eram grande coisa… A sua Maria havia de ter tudo o que ela quisesse e, para começo, já amanhã lhe iria comprar aqueles brincos compridos de pedras azuis que tinha visto na ourivesaria ao lado e que tão bem deviam ficar-lhe, a baloiçarem-se na pontinha rosada da orelha, naquele gesto que ela fazia com tanta graça, a dizer que “não” e “não”, a marota! Sempre, a todos os seus rogos, a todas as suas promessas, a tudo o que fizera para a captar, para a seduzir de há oito anos até… até ontem. Ah, ontem!
E o Joaquim via na noite escura brilhos de lua cheia, escancarava a boca até às orelhas num largo riso silencioso. Ontem!… E o Joaquim fechava os olhos esverdeados que luziam como os de um gato bravo no ardor do desejo, no triunfo de a sentir finalmente conquistada, finalmente muito sua, depois de tantos torvos anos de miséria e de angústia, depois de por ela ter passado fome e frio, depois de a ter querido como sabem querer as almas simples e rudes, na persistência da ideia fixa, invencível e tenaz, encaixada no cérebro branco como silva agarradiça de moita brava.
Ontem!… E o Joaquim via a rua mal iluminada do bairro pobre, a gente que passava afadigada, carregada de embrulhos, gente do povo, gente humilde de volta a casa depois de um dia de fadiga, os elétricos cheios, num grande ruído de ferragens, tim, tim… tim, tim… Ladeira abaixo; via-a a ela, onde luzia o ouro duma medalhinha de Nossa Senhora da Conceição; ouvia-lhe o riso garoto cheio de reticências, evocador de carícias proibidas e desejadas, o riso que às vezes lhe fazia vir à ideia coisas em que seria melhor não pensar.
Pobre rapariga! Ia agora fazer caso das coisas que lhe diziam! Não tinha sido nem uma nem duas vezes que lhe tinham dito mal dela; as referências que lhe faziam não eram nada boas, lá isso não! Que não era séria, que não tinha mesmo juizinho nenhum, que o não queria a ele, mas que talvez quisesse outros, que andava metida com gente de teatro, que mais isto e mais aquilo, enfim, um ror de coisas que às vezes o entristeciam. Nada tinham poupado para lhe fazerem perder aquela cisma, para o arredarem daquele fado em que o viam andar há anos, mas tudo tinha sido em vão. Podia lá acreditar uma coisa daquelas! Mentiras! Más palavras de má gente! Invejas!… E o Joaquim cerrava os punhos num gesto de rancor. A sua vontade era esganar toda aquela gente que dizia mal dela, cortar-lhes a língua aos bocados como a blasfemos sem honra nem vergonha que se atreviam a pôr a boca numa órfã honesta e trabalhadora. Costurava para o teatro, era verdade, e então? É por acaso algum crime trabalhar, ganhar a sua vida, a triste côdea e o direito duma telha que a abrigasse do frio e da chuva?! Gente mais ruim!…
Mas agora, no banco da avenida, deitando para trás das costas os maus pensamentos, o Joaquim era feliz, era amado, estava à espera dela, que tinha prometido vir: “Às dez horas lá estarei, no primeiro banco à direita de quem sobe, um pouco acima do Avenida, lá estarei, espere por mim, sem falta.”
Logo ao anoitecer fora para lá, não fosse a ela dar-lhe na cabeça ir mais cedo ou ele ter ouvido mal. Talvez ela tivesse dito às oito horas, já não se lembrava bem. Ele estava como doido! Não era admiração nenhuma ter trocado as horas, ter-se enganado. Ah, ontem!… Sabia ele lá bem de que freguesia era, ao ouvir-lhe dizer, pela primeira vez na sua vida, que sim, que iria falar com ele, combinarem a sua vida, trocarem as suas promessas, falarem de amor. De amor!…
Numa tremura, como se estivesse com uma forte sezão, tateou o banco onde ela, dali a pouco, se sentaria ao lado dele, mãos nas mãos, olhos nos olhos. A sua Maria! Os pensamentos do seu cérebro zumbiam como abelhas ao sol; não podia seguir o fio de nenhuma ideia; era como se tivesse dentro da cabeça um novelo de fio de ouro, emaranhado, num torvelinho, num rodopio, enrolando-se e desenrolando-se, bordando vertiginosamente visões de sonho, demasiado belas, demasiado douradas para que os seus pobres olhos de simples as pudessem ver sem ficar deslumbrados. Pobre morcego de olhos piscos no resplendor dum meio-dia a arder em sol!
Mas já deviam ser horas. É verdade, que horas seriam? Esteve para ali amodorrado, a falar sozinho, sem prestar atenção a coisa alguma, em ricos de ela passar e não a ver. Tateou no bolso do colete o grande relógio de prata. Ao puxar por ele, para ver as horas, as mãos enrodilharam-se-lhe no dominó preto que vestia. Sorriu, satisfeito. Mais um capricho do demônio da rapariga, que era levadinha da breca! De que ela se havia de lembrar? Como era Terça-Feira Gorda…
“Leve um dominó preto, com um laço azul no ombro, para o conhecer. Havemos de nos divertir muito!” E ele fizera-lhe a vontade, pois é claro! Mirou-se complacentemente de alto a baixo: o dominó de setineta preta que lhe chegava quase aos pés, comprido como sotaina de clérigo, o farfalhudo laço de seda azul sobre o ombro… Tal qual ela havia dito…
O Joaquim ria, mas, ao ver as horas, o sorriso gelou-se-lhe repentinamente nos lábios. Teve um sobressalto como de quem acorda com um encontrão. Dez horas e meia! Que estaria ela a fazer que não chegava? Já teria passado? Enquanto estivera para ali a cismar, era capaz de ter passado por ele sem ter dado por isso. Murmurou aflito: valha-me Deus! Levantou-se, lançou em torno um olhar esgazeado. Na avenida, a fila ininterrupta dos autos continuava a desenrolar-se. À porta do Avenida, estacionava ainda um grupo palrador; gente corria à sua vida, aos seus prazeres, ao seu destino; duas mulheres passaram por ele numa grande algazarra, rindo muito, fazendo grandes gestos. Pensativo, contornou o maciço de flores vagarosamente, deu mais uns passos para cima, mas, lembrando-se de repente de que ela podia chegar e ir-se embora sem o ver, voltou a correr para o banco.
Mas, afinal, que tolice estar assim a afligir-se por uma demora de meia hora! A rapariga era séria, que diabo Não ia agora duvidar dela, da sua boa fé! O dito, dito. Era ter paciência! Isto de mulheres, nunca estão prontas a horas, é mais um alfinete para aqui, mais uma besuntadela para acolá, mais um laço, mais uma fita… E para largarem o espelho é o cabo dos trabalhos!… E, à doce visão da sua Maria a enfeitar-se para ele, a ver-se ao espelho para lhe parecer bonita a ele, o coração dilatou-se lhe num suspiro de consolo, e um sorriso radioso entreabriu-lhe novamente os lábios que o sofrimento contraíra.
Agitou-se no banco, envolveu-se melhor no dominó, que a noite ia-se pondo fria, e resolveu esperar com resignação. Passou, porém, uma hora, duas, e ela sem aparecer… A inquietação mordeu-lhe novamente a alma… Por que não viria? Onde estaria àquelas horas da noite?…
Continuavam a passar autos, continuava a passar gente, e ela nada! Nem sombras dela sequer!… Ele bem olhava para todos os lados, bem perscrutava, de olhos muito abertos, as trevas lá no fundo, por onde ela havia de vir. Nada!…
As luzes do Avenida cegavam-no, fechava os olhos para as não ver. A inquietação, a angústia, a mortal aflição dos que esperam sem esperança corroíam-no lá por dentro como chumbo derretido. E o pobre, no meio da multidão folgazã duma noite de Entrudo, tremia como se estivesse num deserto sem vivalma, sem gota de água ou folha de palmeira povoando a imensidade desolada e tétrica, até aos confins do horizonte, até ao fim do mundo! O polícia de giro, adivinhando do que se tratava, deu uma volta em redor do banco e seguiu, sem lhe dirigir a palavra. Um perdigueiro novo, preto como azeviche, veio rebolar-se na relva a dois passos dele, dando latidos de alegria por se ver solto. Filho-família com tinetas de boêmio conseguiu, com as suas cabriolas, arrancá-lo por um instante aos seus lancinantes pensamentos. Estendeu a mão para o acariciar, mas o cãozito, esquivo e desconfiado, fugiu-lhe e perdeu-se nas pesadas sombras duma rua ao lado.
Que horas seriam?… Viu outra vez o relógio: três horas! Ela já não vinha! Era impossível!… Que estava ele ali a fazer naquele maldito banco, sozinho?… Num supremo esforço de toda a sua vontade, retesou os músculos, levantou-se. Um homem que ia a passar recuou assustado, ao ver de súbito na sua frente aquele fantasma negro; depois de passar, olhou ainda para trás, curioso. O polícia de serviço, que já não era o mesmo, perguntou-lhe desabridamente o que estava ali a fazer, há que tempos, naquele banco. Num humilde sorriso, que mais parecia um esgar de choro, respondeu-lhe, esforçando-se por dar ao seu todo um ar pândego, que estava à espera duma rapariga para irem cear, para festejarem a Terça-Feira Gorda… O polícia, satisfeito com a explicação, piscou o olho, indulgente, e seguiu à sua vida. Ele tornou a sentar-se. Podia ser, podia muito bem ser que ela viesse ainda. Ainda não era tarde! Podia ter adoecido… Mas a estes enganos com que pretendia iludir-se, o pobre coração, que era como uma chaga em sangue dentro do seu peito, revoltava-se num sobressalto das suas últimas energias, numa náusea de nojo perante a perfídia imerecida. Ah, Maria, Maria!
Era então verdade todo o mal que diziam dela, todo o mal que lhe tinham dito! Sem vergonha, sem juízo, sem consciência, passava a vida a desgraçar homens, a desgraçada! Mas então a sua casinha, a sua casinha nova na rua limpa e sossegada, as suas economias, todos os seus sonhos, toda a sua vida?! Que seria feito daquilo tudo, santo deus?! Ah, a mentira, a ilusão de todos esses miseráveis anos que tinham passado, o escárnio de engano que tinha sido o ar que respirara, o pão que comera a viver para ela, a trabalhar para ela, a sofrer por ela! Não a teria nunca, nunca! Não lhe saberia nunca o gosto à boca, àquela boca de tentação, vermelha e úmida, como um cravo a abrir!
Soluços violentos faziam-lhe estalar o peito, a emoção apertava-lhe a garganta em tenazes de ferro, caíam-lhe lágrimas em fio pela cara abaixo. Na sua grotesca humildade era um espantalho desprezível. Mascarado, ridículo, lavado em lágrimas, era mais infeliz que as pedras e dava vontade de rir!
Quatro horas! O riso dela, rio cheio de reticências, riso canalha e escarninho, fustigou-o como uma chicotada na cabeça, ao evocá-lo. Tinha feito pouco dele! Nunca fizera tensões de vir! Onde estaria ela?… Ah, Maria, Maria!…
Num arranco, apalpou no bolso das calças, com a mão crispada, o canivete que trazia sempre; de olhos fechados, a boca torcida num ricto odioso, abriu-o e, num gesto de doido, enterrou fundo no pulso a estreita lâmina afiada. O sangue jorrou como um repuxo e salpicou-lhe os dedos. Sem pensamentos, a cabeça a fugir-lhe, tonto, desvairado, soltou um grito rouco, abafado como um rugido de fera ferida, dobrou-se sobre si mesmo como um fantoche e, de olhos muito abertos, ficou-se a contemplar, num ar pasmado, o sangue a correr-lhe pela mão, em grossos traços negros até ao chão.
Para as bandas do oriente o céu tomava uns vagos tons de nácar. O perdigueiro boêmio, cansado de folgar, veio a passos lentos para ele, cheio de gravidade, desconfiado, farejando de longe o sangue. Os pardais, aconchegados na acácia que a Primavera enchera já de folhas tenras, começavam a mexer-se e a pipiar docemente.
O Joaquim quis levantar-se, mas não pôde, quis abrir os olhos, não teve forças. Um grande bem-estar invadia-lhe o corpo todo, um estranho entorpecimento tornava-lhe as pernas e os braços moles como trapos. A cabeça pendeu-lhe paras as costas do banco. O sangue continuava a correr pelo braço, pela sotaina negra, num tênue fiozinho tépido.
De repente, aos ouvidos do moribundo chegou vagamente, como num sonho, um ruído de passos. Fez um grande esforço para se endireitar, para pensar: Seria ela?… Os passos aproximavam-se… Nas primeiras claridades ainda indecisas da madrugada adivinhou-se um grupo de homens e mulheres vestidos de dominós pretos. Vinham conversando e rindo animadamente, de volta de um baile, talvez…
Ao passar por ele, uma das mulheres exclamou:
— Olha aquele no banco, parece um faz-tudo.
— Está bêbado – disse a outra.
E uma gargalhada estridente acordou a manhã como um gorjeio de pássaro. Ao ouvir aquele riso que se afastava, o agonizante, no seu banco, estremeceu. Num medonho esforço conseguiu desembaraçar-se da mortalha que o envolvia já, conseguiu expulsar o fantasma da morte que rondava perto e pôde mexer os braços, abrir os olhos. Ele bem sabia que ela havia de vir, ele bem sabia!…
O riso juvenil extinguia-se na sombra, em notas de clarim… O grupo afastava-se, sumia-se ao longe…
O moribundo tornou a deixar cair os braços, tornou a fechar os olhos e ficou-se muito rígido, muito estendido no seu banco, com um sorriso nos lábios, iludido e contente…
O céu num pálido azul-esverdeado, acentuava os tons de madrepérola como uma grande concha aberta, dourava-se levemente na orla… Uma andorinha, a primeira, passou veloz como uma seta, tente à cara dele, com um gritinho agudo de alegria…
Despontava a madrugada.
Pesquisa e atualização ortográfica: Iba Mendes (2017)