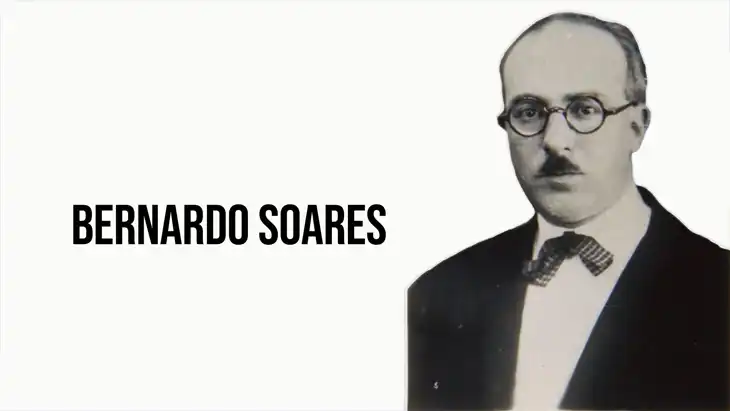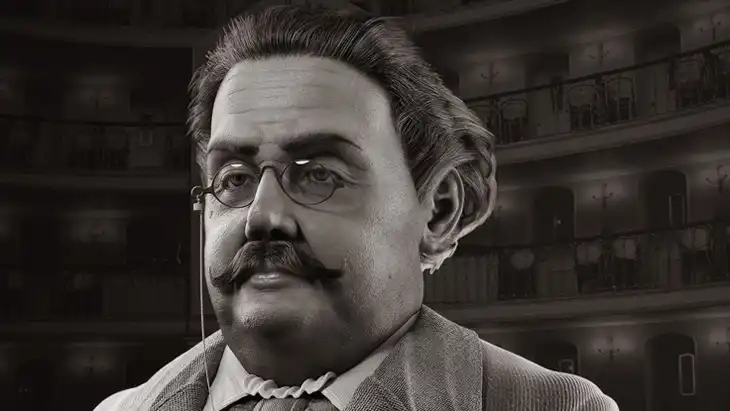“O Cego de Landim” – Camilo Castelo Branco

O Cego de Landim
CAPÍTULO 1
Foi há treze anos, numa tarde calmosa de agosto, neste mesmo escritório, e naquele canapé, que o cego de Landim esteve sentado. São inolvidáveis as feições do homem. Tinha cinquenta e cinco anos, rijos como raros homens de vida contrariada se gabam aos quarenta. Ressumbrava-lhe no rosto anafado a paz e a saúde da consciência. Tinha as espáduas largas; cabia-lhe muito ar no peito; coração e pulmões aviventavam-se na amplidão da pleura elástica. Envidraçava as pupilas alvacentas com vidros esfumados, postos em grandes aros de ouro. Trajava de preto, a sobrecasaca abotoada, a calça justa e a bota lustrosa; apertava na mão esquerda as luvas amarrotadas e apoiava a direita no castão de prata de uma bengala.
Eu não o conhecia quando me deram um bilhete-de-visita com este nome: ANTÔNIO JOSÉ PINTO MONTEIRO.
Em São Miguel de Seide, uma visita que se fizesse preceder do seu cartão era a primeira.
— Quem é? — perguntei ao criado.
— É o cego de Landim.
— E esse cego quem é?
O interrogado, para me esclarecer superabundantemente, respondeu que era o CEGO, como se se tratasse de um cego por excelência e de histórica publicidade: Tobias, Homero, Milton, etc.
Mandei que o conduzissem ao meu escritório. Ouvi passos que subiam rápidos e seguros uns doze degraus; e, no patamar da escada, esta pergunta muito sacudida:
— À esquerda ou à direita?
— À esquerda — respondi, e fui recebê-lo à entrada.
Estendeu-me firme dois dedos e desfechou-me logo, em estilo de presidente de câmara municipal sertaneja às pessoas reais, uma alocução à minha imortalidade de romancista, lamentando que eu ainda não tivesse em Portugal uma estátua… equestre; parece-me que ele não disse estátua equestre. Achei-lhe razão. Eu também já tinha lamentado aquilo mesmo; porém, cumpria-me rejeitar modestamente a estátua, como o duque de Coimbra, agradecendo a virginal lembrança do Sr. Pinto Monteiro.
— Tenho ouvido ler os seus livros imortais — disse ele. — Não os leio porque sou cego.
— Completamente? — perguntei, parecendo-me impossível a cegueira absoluta com a segurança da sua agilidade nos movimentos.
— Completamente cego, há trinta e três anos. Na flor da idade, quando saudava as flores da minha vigésima segunda primavera, ceguei.
— E resignou-se…
— Se me resignei!… Morri de dor e ressuscitei em trevas eternas… O sol, nunca mais!
Pungia-me a compaixão. Disse-lhe consolações banais; citei os mais luminosos cegos antigos e recentes. Nomeei-lhe o príncipe da lira peninsular, Castilho, e ele atalhou:
— Castilho tem o gênio que vê as coisas da Terra e do Céu. Eu tenho as duas cegueiras do corpo e da alma.
Achei-o eloquentemente sóbrio e ático; figurou-se-me até literato dos bons.
Lembrei-me se ele vinha convidar-me para fundarmos um jornal em Landim, ou se viria pedir-me para o propor sócio correspondente da Academia Real das Ciências.
Discreteamos de parte a parte em variados assuntos, até que ele explicou as suas pretensões. Tinha um litígio pendente sobre a posse disputada de umas azenhas que lhe tinham custado três contos de réis, e pedia a minha valiosa preponderância a fim de que os juízes de 2ª instância lhe fizessem justiça inteira.
Observei-lhe que a minha influência poderia ser-lhe necessária se a justiça estivesse da parte do seu contendor; porquanto, quem não tem justiça é que pede.
— Apoiado! — interrompeu ele. — A razão diz isso; mas acontece que o meu contendor pede porque não tem justiça; ora não vão os juízes pensar que eu tenho mais confiança na lei do que neles…
Pareceu-me sagaz, argucioso e um pouco germânico o cego.
Deu-me quatro memoriais, acendeu o terceiro charuto e ergueu-se. Acompanhei-o até ao portão e vi-o cavalgar com garbo quase marialva uma vistosa égua, passar as rédeas falsas pelas outras com destreza, esporear e partir sozinho.
Ora o cego perdeu a demanda das azenhas porque as azenhas não eram perfeitamente dele, e eu não podia pedir aos desembargadores que as tirassem ao dono e mas dessem a mim para eu as dar ao cego.
Nunca mais o vi. Retirou-me a sua admiração e mais a estátua. E, cinco anos depois, morreu.
A história dos homens descomunais deve começar a escrever-se a lâmpada do seu túmulo. À luz da vida tudo são miragens nas ações dos heróis e estrabismos na contemplação dos panegiristas. E tempo de bosquejar o perfil deste homem esquecido, e quem quiser que o tire a vulto em mármore mais persistente. Pretendo desmentir os aleivosos que reputam Portugal um alfobre de líricos, romancistas salobros de amorios de aldeia, porque não temos personagens bastantemente suculentos de quem se espremam romances em quatro volumes.
CAPÍTULO 2
Nascera em Landim em 11 de dezembro de 1808.
1808! Os biógrafos portugueses, se escrevem de pessoa nascida naquela data ou por perto, relatam-nos derramadamente a Revolução Francesa a começar em Luís XVI, exibem a Guerra Peninsular, e concluem o curso de História Moderna ligando fatidicamente à evolução social o nascimento daquele sujeito.
No ano de 1808, uma das muitas pessoas que nasceram sem pesarem um escrópulo, pelo peso velho, na balança dos lusos destinos, foi aquele Antônio José Pinto Monteiro.
O seu pai barbeava em Landim com ferocidade impune. A espada de Afonso Henriques e as navalhas dele têm tradições sanguinárias. Ainda hoje, transcorridos setenta anos, os netos dos seus fregueses parece que herdaram a sensação dos gilvazes dos avós. Em Landim fala-se dele como de Torquemada em Valhadolid. Aquele barbeiro é uma lenda como a de Gerião, assassinado por Hércules, e a do monstro de Rodes, cantado por Schiler.
Antônio, o primogênito deste esfolador, estudou primeiras letras com rara esperteza. Aos onze anos era prodígio em tabuada e bastardinho. Aos doze imitava firmas com perfeição despremiada e vingava-se do menosprezo em que Estado o esquecia, estabelecendo correspondência entre pessoas que não se correspondiam, mediante as quais, uma vez por outra, agenciava alguns pintos.
Como talentos tais não se atabafam muito tempo debaixo do alqueire, o rapaz sofreu algumas contusões. Um monge beneditino de Santo Tirso compadeceu-se do jovem, em tão verdes anos perdido, à conta da sua habilidade funesta: pagou-lhe passagem para o Brasil, porque sabia que os ares de Santa Cruz são como os do Éden para refazer inocentes.
Empregou-se como caixeiro no Rio. Foi estimado nos primeiros três anos. Estremava-se dos seus broncos patrícios no dom da palavra, nas lérias aos fregueses, nos ardis lícitos do balcão, nas ladroíces consuetudinárias que afirmam a vocação pronunciada, as quais, no calão da ótica mercantil, se chamam “lume no olho”. Nas horas feriadas, lia aplicadamente e tangia violão. A sua especialidade literária era a eloquência tribunícia. Estudara francês para ler Mirabeau e Danton. Enchera-se deles e ensaiava repúblicas federalistas com os caixeiros, pedindo cabeças de reis para uns pobres parvajolas que suspiravam apenas por cabeças de gorazes.
Os patrões não farejaram um acabado Robespierre no caixeiro; mas, como desconhecessem a vantagem da apoteose dos girondinos numa loja de molhados, expulsaram-no como republicano.
Pinto Monteiro intrometeu-se na política brasileira, iniciou-se na maçonaria em 1830, fez discursos vermelhos contra o imperador e escreveu clandestinamente. Esteve assim na fronteira do pais prometido aos eternos Paturots. É indeterminável o estádio que ele ganharia se um militar imperialista lhe não cortasse o rosto com um látego. Uma das tagantadas contundiu-lhe os olhos. Pinto Monteiro cegou.
CAPÍTULO 3
Reagiu ao desastre com peito de ferro. Menos rija alma engolfara-se na espessura da sua treva. Ele não. Pediu ao Inferno luz emprestada para entrar na vereda das suas vítimas. Acendeu interiormente, no cárcere do seu espírito, a lâmpada do ódio. A vingança levá-lo-ia pela mão, como Malvina ao cego de Macpherson. Perdoa-me a comparação, ó bardo caledônio! — que eu já vi Marat comparado a Jesus Cristo.
Quando lhe deram alta na barra da enfermaria, pediu o seu violão, saiu às praças, preludiou e cantou umas trovas com arpejo triste, às portas dos argentários e dos taberneiros. As trovas faziam saudades da Pátria e a música gemia as toadas dos lunduns do Minho. Os ouvintes contemplavam-no com dó e davam-lhe esmolas avultadas para regressar a Portugal, ao ninho o seu. Tinha ele um rapaz: era português-ilhéu, alguns anos mais novo. Levara-o a doença, a podridão do vício, à mesma enfermaria; e a penúria e o instinto vincularam-no ao cego. Chamava-se Amaro Faial; mas os que lhe conheciam as prendas corrompiam-lhe o apelido e chamavam-lhe o Amaro Faiante. Pessoas escassas de caridade indulgente diziam que a maldade do cego e os olhos do rapaz completavam dois refinados maraus.
Pinto Monteiro trajava limpamente, banqueteava-se à proporção e dulcificava os confortos caseiros com o amor de uma aventureira mal prosperada como tantas que o arquipélago açoriano exportava consignadas aos Cressos da Rua do Ouvidor, que paxalizavam nos pomares da Tijuca. Criara uma sociedade nova. Acercara de si toda a vadiagem suspeita, os ratoneiros já marcados com o estigma da sentença, os misteriosos, famintos sem ocupação, negros e brancos, não topados ao acaso, mas inscritos nos registros da polícia e afuroados pela sagacidade de Amaro Faial. Tinha lido as Memórias de Vidocq — o celebrado chefe da polícia de Paris. Encantara-o a equidade do governo que elevara Vidocq, a ladrão famoso, àquela magistratura; porque ele, por espaço de vinte anos, exercitara o latrocínio e granjeara nas galés os amigos que depois entregava à grilheta.
Pinto Monteiro organizou a boêmia que, até àquele ano, roubando sem método nem estatutos, exercitara a ladroeira de um modo indigno de pais em via de civilização. Fez-se eleger presidente por unanimidade e nomeou o seu secretário Amaro Faial. Havia um propósito quase heroico neste feito, como logo veremos. Investido desta presidência incompatível com as artes líricas, depôs o violão e, à semelhança do poeta latino, emudeceu os cantares, tacuit musa. Sentia-se no congresso uma alma nova, cheia de fomentos e apontada a rasgar horizontes dilatados.
Quem ouvisse discursar o presidente sociologicamente, ficaria em dúvida se furtar era ciência ou arte. Pinto Monteiro enxertava nas suas preleções acerca da propriedade umas vergônteas que depois enverdeceram com estilo melhor nas teorias de Cabet. Os malandrins mais inteligentes, depois que o ouviram, desfizeram-se de escrúpulos incômodos, e entre si assentiram que não eram ladrões, mas simplesmente deserdados pela sociedade madrasta e vítimas de uma qualificação já obsoleta. A terminologia do livro V das Ordenações num pais jovem, exuberante, e que tem o sabiá e o coco, era uma anomalia.
Desta arte organizada a quadrilha, sob a influência auspiciosa de um cérebro pensante, os cidadãos eram roubados mais artisticamente: na empalmação dos relógios conhecia-se que havia ideias de física, de mecânica, de equilíbrio, de dinâmica e ciências correlativas. Os alunos da reforma pareciam colaborar no Manual do Prestidigitador, de Roret, e abandonavam como arcaísmo aos poderes públicos a Arte de furtar, de quem quer que seja.
A sociedade prosperava a olhos vistos, posto que o presidente não tivesse olho nenhum — nesta independência dos órgãos de relação prova a alma a sua imortalidade. Foi então que Pinto Monteiro e o secretário, munidos dos livros de registro e de toda a escrituração, se apresentaram ao chefe da polícia, Fortunato de Brito.
Eis aqui a reputação de um homem sacrificada à extirpação do crime. Os Codros e os Cúrcios, na restauração da moral pública, fazem isto.
O chefe da polícia conveio nas propostas de Pinto Monteiro, que estatuíra conservar-se na confidência dos ladrões e delatar a paragem dos roubos quando no descobri-los redundassem à polícia créditos e interesses. O cego esclarecera Fortunato sobre a organização do funcionalismo policial em Paris, ensinara-lhe alvitres ignorados e prometia auxiliá-lo num ramo ainda mal cultivado no Brasil — a espionagem política.
Surtiu os previstos resultados a perfídia. Os larápios mais soezes eram arrebanhados para a casa da correção; mas os ladravazes mais ladinos poupava-os o presidente para não perturbar de improviso o equilíbrio do cosmo. E necessário que haja escândalos, diz o Evangelho.
Como agente secreto da polícia recebia do cofre do Estado; como chefe da Associação dos Deserdados, auferia o seu quinhão do pecúlio comum, afora as forragens da presidência, etc.
Este período da vida do cego durou cinco anos; as duas rendas sobravam-lhe à fartura do passadio; principiou Monteiro a engrossar o pecúlio, quando a delator e agente juntou o estipêndio de espião.
Voltando às suas antigas camaradagens políticas, falou nas sociedades secretas com exacerbada virulência; e, vítima de despotismo militar, mostrava os olhos estoirados e baços com a dolente majestade do general Belisário, vencedor dos Hunos.
Constou ao Governo que Pinto Monteiro ousara pedir um Cromwell de quem ele, cego, fosse o Milton. A comparação seria modesta, se não fosse sanguinária. O Governo brasileiro, com sutileza própria dos cérebros formados com tapioca e ananás, entendeu que o pescoço do Sr. D. Pedro II era ameaçado pelo cego com a tragédia de Carlos Stuart.
A Fortunato de Brito foi ordenado que vigiasse e processasse sedicioso cego. Entalação! O chefe da polícia foi explicar ao sei ministro que os discursos de Pinto Monteiro eram boizes armada a pássaros bisnaus de mais alta volateria. O conflito remediou-se prescindindo o espião da oratória, e atendendo somente a seguir rastilho das revoluções urdidas no Rio, para rebentarem nas províncias.
Como no meio da tanta lida ainda lhe sobrava tempo, Monteiro ensaiou pela sua conta, e sem auxílio da malta, uma reversão de propriedade, termos adequados à sua qualidade de deserdado.
Havia morrido um carroceiro quando, avençado com o cego experimentava a sua fortuna em aventuras de moeda falsa, mandando abrir os cunhos no Porto.
A cidade da Virgem tem tido filhos de raro engenho na gravura; mas os seus concidadãos, desamoráveis com as graças do buril criaram à volta deles uma atmosfera fria de desalento, e no pedes tal em que os sonhadores, como Morggen e Bartolozzi, entreviram a glória a oferecer-lhes umas sopas de vaca, o menosprezo público pôs-lhes a fome. Seria bonito para o martirológio da arte que honrados alunos da Academia das Belas— Artes se deixassem perecer de anemia; porém, as poderosas reações do estômago impulsaram-nos a aceitar o único lavor que se lhes oferecia: abrir cunhos de moeda. Este ramo das artes imitativas floriu no Porto como planta indígena, a termos de haver ali trabalhos excelentes e muito em conta. Já se conheciam os gravadores portuenses como hoje se conhecem os capelistas da Rua de Cedofeita — o primeiro barateiro, o Rei dos Barateiros, o Barateiro sem competidor. Faziam-se notas a 5% quando a arte estava no berço ainda timorata: depois, à medida que a prosperidade das empresas internacionais aumentava o pedido, os bons artistas davam de mão aos brasões dos sinetes, às chapas dos portões e às firmas dos anéis; e, rivalizando-se no primor e na barateza da obra, já davam um conto de notas falsas por dez mil-réis sinceros.
Era este o preço da dezena de contos que o carroceiro mandara comprar por intermédio de Pinto Monteiro, e não chegara a receber, atalhado pela morte. Deixara, porém, segredado à viúva que se entendesse com o seu amigo Monteiro quando lhe entregassem a encomenda.
Não sei se estas notas eram parte de uns trezentos contos que por esse tempo saíram do Porto para o Brasil dentro da imagem do Senhor dos Passos. Não averiguei as profanações que se deram nesta remessa: o que sei é que a viúva avisou o cego; e que, no mesmo dia do aviso, o chefe da polícia colhia de sobressalto a viúva, escondendo o rolo das notas entre o guarda-infante e a parte subjacente que ela julgava intangível aos contatos brutos dos esbirros.
Levada a interrogatórios, foi pronunciada; mas, desde que ela entrou no cárcere, Pinto Monteiro, consternado até às lágrimas, assistiu-lhe com a mais desvelada benquerença, constituindo-se o seu procurador.
Esta mulher herdara a independência. Gemeu em ferros seis anos, cumprindo a comutação de uma sentença que a condenava a degredo para a ilha de Fernando. Essa comutação custara-lhe o restante dos seus haveres, absorvidos, pelo cego de Landim. Quando saiu do cárcere, e se viu roubada pelo amigo do seu marido, e reduzida a mendigar, denunciou ao chefe da polícia a cumplicidade de Monteiro no negócio das notas. Fortunato de Brito conveio que o seu agente era infame maior da marca: mas fazia-se mister que tivesse aquele tamanho para dar pela barba à corpulência da corrupção. O cego de Landim gozava a inviolabilidade de mal necessário.
A extorsão feita à viúva divulgou-se e acerbou os antigos ódios contra Pinto Monteiro. Demais a mais, ele tinha ofendido o espírito dos estatutos, que eram obra a sua. Os consócios acharam irregular e menos honesto que o seu presidente levasse o egoísmo à extremidade de reivindicar só para si direitos de propriedade comum. Toda a propriedade alheia era deles todos, pelos modos. Alguns destes, mais penetrantes, incutiram no falanstério a suspeita de que o chefe tivesse inteligências com a polícia. Um mulato de grandes brios, notável capoeira e muito sumário nos processos daquela espécie, fez lampejar o aço da sua faca e declarou que ia anavalhar o redenho do cego.
Quando esta cena tumultuária se passava na taberna do João Valverde, na Rua do Catete, Pinto Monteiro e Amaro Faial já estavam a bordo da galera Tentadora, que velejava para o Porto.
CAPÍTULO 4
Em Setembro de 1840 apareceram em Landim Pinto Monteiro e o seu Chamado guarda-livros. Acompanhava-os a açoriana, intitulada honorificamente esposa do cego. Era uma mulher desnalgada, sardenta, ruiva, alta e possante, com brotoejas rosáceas na testa e um caracol de barba no queixo inferior. Galhardeava moirées, calçava botas verdes e trazia uns merinaques que rugiam como as cavernas dos ventos.
Pinto Monteiro alugou casa enquanto reedificava outra sobre o casebre do seus pais. O guarda-livros dizia com certo resguardo que o patrão era muito rico. Convergiram logo das freguesias circunvizinhas bastantes cavalheiros a visitá-lo, uns porque tinham sido os seus condiscípulos na escola, outros por parentesco não remoto.
O cego banqueteava os seus hóspedes com iguarias incógnitas apimentadas por cozinheiras negras. Os comensais, gente saturada de vegetais e milho, comiam à tripa forra e levavam em si daquela mesa lauta raras indigestões, muitas saudades e cópia de vinhos. O cego tinha uma irmã, dez anos mais nova, que surgiu com bandós, dom e espartilhos dentre um balão da cunhada. Falou-se do casamento da jovem, dotada pelo irmão com dez contos. Os morgados já curveteavam os seus potros por Landim, e de longes terras vinham propostas de casamento, por intermédio de padres e beatas. A rapariga, que eu conheci a encanecer na decadência dos cinquenta anos, devia ter sido uma trigueira sanguínea com as mordentes graças das sobrancelhas travadas e negras como a penugem do bigode.
Pinto Monteiro passava temporadas no Porto com Amaro Faial. Era ali que ele cumpria a mensagem a que fora enviado pelo chefe da polícia fluminense. Viera, sob condições estipuladas, relacionar-se com os exportadores de moeda falsa e estatuir, de harmonia com os interessados, bases orgânicas e auspiciosas para negócio menos precário. O resultado, previsto pelo cego e aplaudido por Fortunato de Brito, era a polícia conhecer no Império Brasileiro os cúmplices dos agentes que residiam no Porto e, de uma vez para sempre, abranger em rede varredoura os principais.
Conseguira captar a confiança dos dois gravadores mais habilidosos e conhecidos além-mar; mas um deles, Coutinho, o ancião que eu vi morrer na enfermaria da Relação em 1861, não delatou as pessoas com quem negociava, posto que o cego lhe garantisse uma velhice abastada nos confortos da honra. O outro artista, que morreu rico, apesar de se ter remido da cadeia à custa de dezenas de contos, também não denunciou os seus fregueses; mas convidou o cego a mercar-lhe au rabais uns cinquenta contos, resto da última edição.
E o cego comprou-os.
Em 1841, a hospedaria dileta dos brasileiros de profissão (distingam-se assim dos brasileiros do Brasil) era a do Estanislau, na Batalha. Ali havia a sem-cerimônia do chinelo de liga à mesa-redonda; os colarinhos arregaçados deixavam arejar as pescoceiras rorejantes de suor, que se limpavam aos guardanapos; cada qual podia comer o arroz com a faca e o talharim com o garfo; a laranja era descascada à unha e os caroços das azeitonas podiam ser cuspidos na mesa, bem como as esquírolas do pernil do porco desenlatadas a palito das luras dos queixais. E era até de direito comum cada qual caçar de guet-apens a importuna mosca na cara e decapitá-la publicamente. Estava-se ali à vontade, como nos jantares de Peleu e Pátroclo, com um grande estridor de mastigação e arrotos.
O cego hospedava-se no Estanislau e dizia ao secretário:
— Estamos com a nossa gente, Amaro amigo.
A idade, a compostura e o palavreado, com a reputação de rico, deram-lhe na mesa o lugar mais autorizado. Os brasileiros vindos do Rio conheciam aquela figura; alguns sabiam que o homem se tinha arranjado com expedientes misteriosos; mas isto mesmo era qualidade meritória e relevante no comensal. Rosnava-se de moeda falsa; até alguém teve a ousadia de repetir o boato corrente ao guarda-livros. Amaro Faial deu aos ombros, sorrindo, e disse:
— A moeda falsa é comércio como qualquer outro, com vantagens em proporção dos riscos. Negócio execrando só conheço um: é o da escravatura. Há também uns negócios que, depois de muitos anos de estafa, não deixam nada: esses chamam-se negócios tolos. Assevero-lhes que a riqueza do Sr. Pinto Monteiro não se fez com a escravaria.
Estava lançado o dardo. Esta franqueza deu margem a discussões, nas quais o cego e o Faial descobriram entre os contendores os menos escrupulosos. Volvidos alguns dias, Pinto Monteiro tinha vendido os cinquenta contos de notas para um brasileiro da Maia e era encarregado de agenciar cem contos para outros que o primeiro aliciara. Nesta transação cobrara o cego percentagem e pedira sociedade no quinto dos interesses, com a cláusula de dirigir no império a circulação da moeda-papel. Pactuaram a viagem para julho daquele ano. Pinto Monteiro convencionou acompanhá-los, a fim de liquidar o restante dos seus haveres, dar impulso ao negócio e vir depois descansar na Pátria.
Depois de uma demora de dois meses, Pinto Monteiro recebeu do Porto a infausta nova de que a açoriana, cativa das negaças de um espanhol operador de catarata, fugira com ele para a Galiza. Bacorejou-lhe ao cego que estava roubado, e o palpite funesto realizou-se.
A quantia devia ser valiosa, porque o traído amante suspendeu as obras começadas e desfez contratos apalavrados de compras. Ficou na memória dos contemporâneos a respeito da pérfida uma palavra do cego, significativa da sua índole:
— Se o espanhol levasse a mulher e me não levasse o dinheiro, penhorava-me bastante. Como me tirou as cataratas do coração, pagou-se pelas suas mãos o patife!
A opinião pública de Landim irritou-se quando soube que a fugitiva era simplesmente manceba dó cego. A moral exigia que ele fosse marido, para não se desvaliarem os quilates do escândalo.
CAPÍTULO 5
No mês aprazado, Pinto Monteiro regressou ao Rio de Janeiro, acompanhado da sua irmã D. Ana das Neves. Embarcaram no Porto com ele os amigos e sócios granjeados no hotel. O brasileiro da Maia, comprador dos cinquenta contos, levava algumas pipas de vinho verde, e uma destas vasilhas tinha sido fabricada conforme o modelo que dera o cego e sob a fiscalização de Amaro Faial. No reverso das quatro aduelas do bojo pregaram um quadrado de madeira com chanfradura onde envasasse o rebordo de um caixote de flandres; a pregagem do quadrado ficava oculta debaixo de quatro dos arcos de ferro. O caixote continha duzentos contos em notas brasileiras e era estanhado nas junturas, de modo que o líquido as não penetrasse, através de uma grossa capa de chumbo.
Chegados ao Rio, a carregação entrou nos armazéns da Alfândega, e Pinto Monteiro, com a sua família, hospedou-se em casa de Fortunato de Brito. Ao apontar o dia seguinte, os passageiros delatados pelo cego eram presos; a pipa despejada e desfeita; e o caixote das notas conduzido ao tribunal para se lavrar auto. Os quatro portugueses morreram no degredo, perdidos os haveres que já tinham adquirido honradamente. Pinto Monteiro recebeu dez contos de réis, os 5% estipulados e deduzidos da presa.
O leitor vai descobrindo que eu não estou escrevendo um romance. Consta-me que, no Rio, os homens que já o eram há trinta anos recordam estes fatos com algumas miudezas que não pude obter, nem já agora inventarei. Os meus apontamentos são exatíssimos no sumário das excentricidades do cego; mas escassos dos pormenores que eu rigorosamente quisera não omitir.
Aqui me contam eles os amores da morena filha de Landim com o chefe da polícia. Este episódio poderia ser o esmalte do meu livrinho, se num chefe da polícia coubessem cenas de amor brasileiro, mórbidas e sonolentas, como tão languidamente as derrete o Sr. J. de Alencar. Em país de tanto passarinho, tantíssimas flores a recenderem cheiros vários, cascatas e lagos, um céu estrelado de bananas, uma linguagem a suspirar mimices de sotaque, com isto, e com uma rede — ou duas, por causa da moral — a bamboarem-se entre dois coqueiros, eu metia nelas o chefe da polícia e a irmã do cego, um sabiá por cima, um papagaio de um lado, um sagui do outro, e veriam que meigas moquenquices, que arrulhar de rolas, eu não estilava desta pena de ferro! Mas eu não sei se me acreditariam coisas tão peregrinas entre o virginal Fortunato, chefe da polícia, e ela, a Menina Neves, que já havia colhido as boninas de vinte e nove primaveras nas florestas do seu Minho, onde a maroteira é pré-histórica!
Amores e desventuras de pior natureza nos levam a outro incidente, e aí veremos que Pinto Monteiro fareja todos os latíbulos em que se acoite algum crime e não consente que a corrupção do século XIX ponha pé em ramo verde no novo mundo Certa carioca, esposa de um João Tinoco, português, fizera assassinar com veneno o marido por um escravo; mas com tal resguardo que o conjugicídio não escoou dos muros da quinta onde ela impunemente se dava às delícias de Agripina. Isto de chamar Agripina à viúva de João Tinoco é excesso de erudição. Ela não tinha ideia nenhuma de ser posta em paralelo histórico com a envenenadora de Cláudio; o que ela queria era que a deixassem gostar as alegrias da viuvez de um marido que entrara em casa do seu pai como aguadeiro e, exaltado a esposo, a quisera forçar a fidelidades incombináveis com o clima, desenvolvendo de mais a mais um excedente de calórico na esposa com o atrito do murro português de lei.
Tinoco tivera um caixeiro que expulsara quando lhe descobriu capacidade para o adultério, segundo informações de um marçano que vira piscarem-se reciprocamente os olhos direitos a sinhá e ao caixeiro. Eis o fio que conduz o cego até ao tálamo infamado, e daí à campa do muito João Tinoco. O assassinado tinha irmãos abastados no Rio. Pinto Monteiro revela-lhes que o seu mano morrera de morte violenta e, coberto de lágrimas, não podendo mostrar os intestinos dilacerados de Tinoco, como Antônio a túnica de César, põe as mãos convulsas no ventre e exclama:
— Despedaçaram-lhe as entranhas as agonias do arsênico! Etc.
Fez terror.
Rugem vingança os irmãos; o cego dá vulto às dificuldades das provas judiciárias; franqueiam-lhe dinheiro sem conta e um grande prêmio, se a prova se fizer.
Vejam os profundos segredos do Céu! Os crimes obscuros quase nunca é a lâmpada da virtude que os descortina; são sempre os cerdos que foçam e tiram à tona dos lamaceiros as podridões submersas.
Pinto Monteiro fez surdir à flor da terra as podridões de Tinoco e a toxicologia declarou que o homem morrera envenenado pela massa de Frei Cosme. Não vá o leitor pensar que entra na novela um frade que manipulava massas homicidas. Não, senhor. A massa de Frei Cosme é uma farinha saturada de arsênico.
A viúva não pôde defender-se, desde que a negra confessou que envenenara o amo num timbal de borrachos, por ordem da senhora. Degradaram por toda a vida a ré convicta, privando-a dos bens herdados do esposo. Com a quinta preciosa foi galardoada a benemérita solicitude de Pinto Monteiro — o vingador de Tinoco e da Moral, que eu sempre escreverei com o M maior que eu puder.
Fortunato de Brito, o chefe da polícia, foi demitido por este tempo. Antônio José Pinto Monteiro resolveu repatriar-se. A denúncia dos moedeiros açulara-lhe muitos e poderosos mastins. A imprensa brasileira insultava a colônia portuguesa pelo fato do crime e pelo fato do delator. A equidade foi estranha aos ódios e injúrias que golpearam Monteiro. Não lhe descontaram na perfídia as vantagens comerciais que derivaram dela. Cessara o pânico e o terror iminente de um cataclismo no crédito e nas casas bancárias. A polícia, iluminada pelo cego, sabia as veredas que em Portugal conduziam aos balancés. A gente honesta, o comércio honrado, rejubilavam com a traição de Pinto Monteiro; mas, atidos ao velho prolóquio onde não reluz faúlha de filosofia prática, execravam o homem que levara às plagas do degredo os salteadores da probidade incauta.
Esta vítima ainda não estava inscrita no martirológio dos grandes lapidários da civilização.
CAPÍTULO 6
Os meus informadores, que mais privaram na intimidade de Pinto Monteiro, dizem que ele, no segundo regresso a Portugal, trouxera, além de secretário, dois filhos, que deixara no Porto a educar no Colégio da Lapa, e uma filha ainda muito na flor da mocidade. Da mãe destes meninos, que pouco há vivia ainda nos arrabaldes do Rio de Janeiro, não há nada romanesco; mas bem pode ser que houvesse da parte dela um profundo sentimento de dó com muitíssima abnegação de si mesma; e no coração do cego com certeza houve extremoso amor de pai. Os tigres sempre tem e os homens costumam ter às vezes este santo instinto de amarem os filhos.
Vinte e tantos contos perfaziam os haveres de Pinto Monteiro. Concluiu as obras iniciadas, comprou terras e dirigiu pelo tato as benfeitorias que fez no prédio que habitava. Há duas horas que eu estive a reparar, por cima do muro do jardim, na graciosa vivenda que ele enchera de luz como se um beijo do sol de agosto pudesse descondensar a álgida escuridão do seus olhos. Ali passaram alegres dias os seus convivas sob os caramanchéis das parreiras. O grande prazer de Monteiro era dar banquetes opíparos.
Ouvia ler as Artes de Cozinha, conhecia Brillat— Savarin, enchia-se do fino sentimento dos guisados; e, apontando a pituitária aos vapores das caçarolas, marcava quando era sobejo o cravo ou escasso o colorau. Fazia pensar se a vista, voltando-se para o interior, penetrava nos refegos membranáceos o ideal do estômago! Se um cego ilustre deplorava o perdido paraíso, outro cego parecia tê-lo encontrado na cozinha.
Ele, que na América pusera o cautério à ladroagem, à falsificação das notas e ao adultério agravado pelo homicídio, não sabia como amordaçar a maledicência dos seus conterrâneos, senão ocupando-lhes as línguas no trabalho da deglutição. A cada injúria que lhe chegava aos ouvidos, mandava comprar dois leitões.
— Mano Antônio, dizem que tu entregaste os ladrões ao chefe da polícia
— dizia a Menina Neves.
— Dizem? Pois, visto que não os posso entregar a eles, compra um peru e dá-lho amanhã com recheio.
— Mano Antônio, agora dizem que denunciaste os da moeda falsa.
— Compra anhos e capões; atasca essas línguas em pudim de batata, embolamos com almôndegas, deita-lhes aziar de ovos em fio, afoga-lhes os escrúpulos em vinho de 1815, menina.
E, depois, tinha outra paixão que o deliciava: arranjar casamentos.
Florescem hoje em Landim alguns casais de pessoas ditosas que ele ajoujou, vencendo estorvos à custa de engenhosas intrigas e até de liberalidades das suas abatidas posses.
A filha de um cabaneiro, que se criava pela sua casa, era o passatempo do cego. Chamava-se a Narcisa do “Bravo” — alcunha paterna. Até aos treze anos andava vestida de rapaz e media-se com os mais gaiatos a trepar à grimpa de um pinheiro, no assalto noturno às cerejeiras, em duelos à pedrada, no jogo do pau e no murro. Era virilmente bela e bem feita; mas os meneios adquiridos nos trajos de rapaz desengraçavam-na vestida de mulher. Ela mesmo olhava para si com zanga e puxava a repelões as saias esfrangalhando-se. Pinto Monteiro dava tento destes frenesis, ria-se muito e contava-lhe casos de mulheres portuguesas que batalharam incógnitas, cobrindo os seios com arnês de ferro.
Estava no plano do cego casá-la. Narcisa dizia-lhe que não pensassem em tal, porque à primeira pirraça que o marido lhe fizesse, favas contadas, esmurrava-lhe os focinhos. Este programa não assustou Pinto Monteiro, visto que os focinhos ameaçados eram os do marido.
A rapariga foi pretendida extra matrimonialmente por vários devassos de Landim, Santo Tirso e terras circunjacentes. A virago tinha perrexil do que morde nas línguas já embotadas; mas também tinha mãos nervudas e uns dedos nodosos que se fechavam em forma de boxe, assim que os pimpões lhe cantavam desafinados.
Um destes era um forte lavrador de Sequeirô, o Custódio da Carvalha. Apaixonou-se com a resistência e falou-lhe sério em casamento. Narcisa contou a passagem ao cego, que batia as palmas com veemente júbilo, exclamando:
— Ó moça, aproveita antes que o rapaz se arrependa! Olha que ele colhe trinta danos e é um bonacheirão… E que tal o achas de figura?
— Eu sei cá!…
— Tu gostas dele ou não gostas?
— Como se nunca nos víssemos.
Então, não o conhecias há muito tempo já?
— Nunca o vi mais gordo.
— Mas queres casar com ele ou não?
— Tanto se me dá como se me deu; mas o padrinho diga-lhe que, se se faz fino comigo, eu pinto aí a manta, que ele não sabe de que freguesia é. Eu não ponho unhas em foicinha nem sachola, ouviu? Não fui criada na lavoura. Se ele pega a mandar-me sachar milho ou segar erva, temo-las armadas.
— Casa, que tu amansarás… — dizia o cego.
E casou.
Monteiro deu-lhe magnífico enxoval, cordão, cabaças, anéis, broche; vestiu-se de fino pano; foi padrinho do casamento, banqueteou os noivos com muitos convidados, chamou a música de Paiva de Ruivães e queimou dez dúzias de bombas reais.
O marido sentiu as fascinações que enchem de delícias o inferno dos corações escravos. Ela manietou-o sem violência de mau gênio, com as suas carícias de gata que desembainha as unhas brincando. Folia rija! Romagens, quantas havia no Minho: festanças com três clarinetes e requinta todos os domingos na eira; a Cana Verde e o Regadinho saltados pelas maiatas mais frandunas; bródios e vinho, festa fora. Comprou égua de marca, vestiu-se de amazona, e ela aí ia com o marido corcovado, sonâmbulo, a choutar na mula esparavonada atrás dela por essas feiras e romarias. As vezes, se os moleiros não despejavam depressa os caminhos atravancados com os seus jumentos carregados de foles, verberara-os com o chicotinho e chamava-lhes canalhas. Em questões com os vizinhos, por causa de regras ou invasões de gado, fazia ameaças sanguinárias. Carregava as espingardas do marido e atirava aos gaios com pontaria infalível. Quando soube que as senhoras do Porto usavam colete e gravata à laia de homens, exultou, como quem vê triunfar a sua ideia, e quis vestir calções e botas à Frederica.
O lavrador, já no cairei do abismo, vendidas as melhores propriedades, quis reagir. Viu que tinha pela frente um virago de fibras. Afrouxou por medo e por amor. O pusilânime vergava ao prestigio da força. Narcisa ofuscava-o com a rutilante beleza do Demônio, disfarçado na lendária Dama Pé de Cabra e noutras damas que o leitor conhece com pés chineses.
Dobados dez anos de vertiginosa dissipação, o lavrador resvalou do idiotismo à sepultura amando ainda a mulher que vendera um lençol para lhe comprar a última galinha. E Narcisa, viúva aos vinte e oito anos e ainda formosa, atirou com a honra às goelas do dragão da miséria e não chorou uma lágrima.
Havia uma amiga que lhe dizia palavras dolorosas, com sincero dó: era a irmã do cego. Pobre Neves! quem te predissera o suplício dos teus derradeiros anos, ligada ao destino da mulher que tu criaras com maternal ternura!…
CAPÍTULO 7
Entretanto, o padrinho de Narcisa não escarmentava no sestro de casamenteiro; é certo porém que semelhantes casos assim funestos não se repetiram nas suas operações matrimoniais. Por esse tempo, casou ele a filha com diminuto dote e abriu a carreira do sacerdócio para um filho, que outras vocações depois afastaram da Igreja. Os seus teres, com judiciosa economia, seriam bastantes à decência aldeã; porém, privar-se da mesa farta e franca era privar-se de amigos que lhe festejassem as anedotas. Pinto Monteiro, no dia em que falisse de auditório, começaria a morrer no abafador silêncio da célula penitenciária.
Empobrecia rapidamente: mas dava a perceber que a filosofia de Jó é a última moeda com que o homem decaído compra a resignação e a glória eterna, par dessus le marché, dizia ele.
Amaro Faial, confidente dos secretos desfalques do patrão, pensou em retirar-se para o Brasil, visto que não tinha secretaria para fiscalizar, nem desprendimento tamanho que aceitasse outra vez o ofício de rapaz de cego.
É aqui o lugar de repetir literalmente uma acusação que todos os meus informadores, sem discrepância, irrogam ao cego de Landim.
Um lavrador da Lamela, induzido por Pinto Monteiro, vendeu as suas herdades por alguns contos de réis, a fim de ir negociar no Brasil e centuplicar o seu dinheiro. Saiu Monteiro com destino ao Rio, levando na sua companhia o lavrador. Passados dias, aparece em Landim o cego, fingindo-se doentíssimo, e diz que o seu companheiro embarcara e de retrocedera forçado pela moléstia. Ora, do lavrador nunca mais houve notícia; mas no Governo Civil de Lisboa fora visado o passaporte de José Pereira da Lamela e o mesmo nome inscrito na lista de passageiros. Isto não obstante, o cego era acusado de haver matado em Lisboa o lavrador, não podendo roubá-lo por maneira mais suave; e a certeza confirmou-se quando parentes que o Lamela tinha no Rio, perguntados a tal respeito, responderam que nunca viram tal homem, nem, depois de chamado pela imprensa de todas as províncias, aparecera. Asseveravam, porém, que um nome semelhante se lia na lista de passageiros desembarcados no Rio, no mesmo navio e mês em que de Portugal se informava que ele partira.
Seria mais natural supor que José Pereira morrera obscuramente nalguma roça; mas à calúnia pareceu mais romântico decidir que o cego o matara. — Como presumem os senhores que o cego matasse o lavrador? — perguntei.
— Não sabemos; o mais provável é que o atirasse ao rio quando o bote ia para bordo da galera.
Esta era e é a opinião corrente. Pelos modos, o cego, em pleno sol do Tejo, na presença dos barqueiros, alijou o passageiro ao no e fez remar para terra o bote com a bagagem do morto; depois, saltou no Cais das Colunas com a mala do dinheiro debaixo do braço e às apalpadelas lá se foi pacificamente a caminho de Landim.
Corre parelhas em maldade e estupidez esta aleivosia, é certo; mas o lavrador, de feito, fora assassinado em Lisboa.
Agora, posto que tardia, aí vem a reabilitação de Antônio José Pinto Monteiro.
Quem induzira o lavrador da Lamela a vender as terras foi Amaro Faial, oferecendo-lhe sociedade em negócio que rendia 200%. O Pereira da Lamela era calaceiro. O trabalho agrícola pesava-lhe: as suas terras, avaliadas em cinco contos, rendiam escassamente o passadio grosseiro do lavrador minhoto. Calculou, firmado na prova matemática das cifras de Amaro, que, ao fim de cinco anos, devia ter cinco contos dez vezes multiplicados. É claro: 200% — 5 vezes 10 — 50 contos. Vendeu as terras e partiu com o ex-secretário do cego. Pinto Monteiro, sinceramente afeiçoado ao seu confidente de vinte anos de vária fortuna, acompanhou-o até ao Porto e dali voltou para Landim algum tanto enfermo, e às pessoas que lhe perguntavam pelo Pereira da Lamela respondia naturalmente que tinha embarcado. Dava-lhe, porém, que pensar não estar o nome de Amaro Faial, na lista dos passageiros.
O leitor já descobriu que o assassino do lavrador foi Amaro; que o passaporte do morto serviu para o matador: mas ignora os pormenores do crime, e eu também os não sei.
Passados anos, um correspondente de gazeta escrevera o essencial da calúnia que assacava o homicídio ao cego. O delegado de Vila Nova de Famalicão, Soares de Azevedo, e advogado de Pinto Monteiro em diversas demandas, aconselhou-o que justificasse a sua inocência neste crime que lhe imputavam, porque deixá-lo à calúnia e à revelia era arriscar-se a perder todos os seus pleitos. O cego, com a lúcida intuição de quem tinha longa prática de crimes tenebrosos, explicou a morte do lavrador, comprovando-a pelas circunstâncias do passaporte, peia omissão do nome do homicida na lista dos desembarcados no Rio e pela certeza que lhe deram de Amaro Faial ter morrido poucos dias depois que chegara, no hospital, com o roubo ainda intato, segundo vira na notícia dos espólios dos falecidos. Replicou-lhe o delegado que semelhante justificação era insuficiente: o cego redarguiu que não tinha outra, nem essa mesma daria, se Amaro Faial fosse vivo, porque no seu braço se amparara vinte anos, vinte anos vira pelos olhos dele e mal remunerado o despedira, sem que o seu guarda-livros murmurasse da mesquinhez da paga.
CAPÍTULO 8
Em 1858, o cego, escasso de posses, escorregava na ladeira da pobreza. Havia vendido ou hipotecado as terras. Perdera demandas valiosas: parece que em quase todas influiu a sua má nota a desculpar a injustiça. Duas quintas lhe foram extorquidas com tão estranho desaforo que é mister aceitar-se intervenção de jurisprudência divina para que o homem as perdesse, pois é de crer que as adquirisse com dinheiro desonrado. Dizia ele que viera encontrar em Portugal espécies de ladrões fleumáticos e frios, que não topara nos, climas quentes; e que o larápio luso-brasileiro era francamente analfabeto e lerdo, ao passo que o ladrão estreme e puramente luso, era, por via de regra, além de perverso, bacharel formado. Aludia a dois adversários jurisconsultos que eu escondo à curiosidade do leitor, porque me sustém o pulso um quase religioso respeito à memória honesta de Paiva e Pona, e também de Pegas.
Com as últimas moedas, abriu Pinto Monteiro um botequim em Famalicão, faz hoje dezessete anos. A vila, nesse tempo, estava na apojadura das suas prosperidades. Choviam ali brasileiros que nem maná nos areais da Mesopotâmia. Dos paues alagadiços irrompiam casas de azulejos variegados. Vila Nova era o centro da locomoção do Minho, da mercancia agrícola, da vilegiatura dos Portuenses; mas não tinha o café — a prova real da civilização.
Pinto Monteiro contava com as leis do progresso; porém, Vila Nova, que hoje, na extrema decadência, tem três cafés com dois limões sorvados e três garrafas de licor de canela, em tempos florentíssimos não sustentou o botequim do cego, em que havia conhaque, curaçau, chartreuse, kermann e absinto. É porque, há dezessete anos, o progresso material desconhecia a precisão dos cafés, paragens de uns ociosos que se putrificam, raça amolentada no sibaritismo da cerveja de quartola, com grandes orgias de cigarros de Xabregas.
O cego apenas vendia algum capilé aos vigários encatarroados e orchatas aos adiposos. A ruína ia consumar-se, e o botequim fechar-se, quando chegou à vila e se hospedou no hotel um brasileiro doente vindo do Rio com a sua esposa. Pinto Monteiro conhecia de nome o enfermo.
Visitou-o e acompanhou-o nos desalentos da caquexia, animando-o ou distraindo-o com a sua variada e jovial conversação. Alvino Azevedo afeiçoou-se-lhe a ponto de, chegado ao termo dos sofrimentos; lhe confiar a sua mulher, pedindo-lhe que a protegesse e guiasse na administração dos seus haveres. A esposa do enfermo estava um pouco distante da idade em que as viúvas correm perigo se as não vigiam: tinha setenta anos feitos e já não conservava toda a frescura das suas dezoito primaveras, nem os dentes completos. Os dons do espírito não era transcendentes nem talvez bastantes para seduzirem outro marido: D. Joana Tecla era idiota.
O caquético expirou nos braços do cego, despedindo-se da esposa com uma olhadela cheia de saudades e talvez de esperanças no paraíso de Mafoma, em que as mulheres velhas remoçam. Ela chorou copiosamente e declarou que aquele morto era o terceiro marido que lhe fugia para o Céu. Eles tinham tido razão em fugir todos.
D. Tecla passou para casa do cego, com todo o resguardo da sua pudicícia, acompanhada pela mana Neves.
Passados os três dias de nojo, perguntou-lhe Pinto Monteiro se queria voltar ao Brasil, a sua pátria, ou ficar em Portugal, recebendo os rendimentos dos seus prédios no Rio. A viúva respondeu que a sua posição era muito melindrosa; que uma senhora não podia ir sozinha para tão longe; que o mundo estava cheio de homens malcriados que mediam tudo pela mesma rasa; que não queria sujeitar-se a algum desaguisado por essas terras de Cristo; que, enfim, não ia para o Brasil sem ter família muito honesta com quem fosse.
— Mas então, a minha senhora — redarguiu o cego —, quer, entretanto que não vai, viver sozinha em Vila Nova, ou dá-nos o prazer da sua companhia? o seu defunto esposo encarregou-me da dirigir; eu, porém, o que farei é conformar-me com a vontade da senhora, que já tem suficiente idade para saber o que lhe convém.
— Não sei nada do mundo — acudiu Tecla. — Estou muito verde. O senhor é que há de guiar-me.
— Deus lhe dê melhor guia do que um cego, a minha senhora; mas aí tem a minha mana, que lhe será companheira e irmã.
No dia seguinte, Monteiro fechou o botequim com um sorriso sarcástico e o ar solene e vingativo de quem fechava a porta que franqueara à civilização de Vila Nova.
Ele vociferou que os habitantes de Famalicão eram indignos do café, deu volta à chave e foi caminho de Landim com a hóspede e a irmã.
CAPÍTULO 9
Os dois prédios que a viúva possuía na Rua da Quitanda valiam quarenta contos de réis fracos; as suas joias, dádivas de três maridos, eram muitas e nem todas de pedras falsas. A idade da viúva animava um quarto marido, na hipótese de caber a esse quarto em vez de a ver fugir para o Céu a ela. O certo é que andavam já dois empregados de Fazenda e outros tantos da Administração a espiarem a oportunidade de lhe seduzirem a inexperiência, quando a viram ir empertigada numas andilhas, caminho de Landim, a choutar e a rir-se dos solavancos do macho.
Os pretendentes pegaram de gritar contra o cego, assacando-lhe o rapto e a coação da viúva. O juiz de direito viu-se obrigado a deferir ao requerimento de um curioso que pedia uma visita domiciliária ao cárcere privado de D. Joana Tecla Alves. Efetivamente, a hóspede de Pinto Monteiro foi interrogada, em presença de testemunhas, se estava naquela casa pela sua livre vontade, não coagida nem seduzida.
Respondeu que estava muito contente e que podia estar onde quisesse.
O juiz concordou.
Algumas cartas amorosas em papel perfumado lhe enviou o mais galã dos funcionários de Famalicão. Joana Tecla relia as cartas com secretas delícias; mas, no exterior, fingiu-se de uma isenção que faria envergonhar Artemisa, viúva de Mausolo, e as combustíveis viúvas de Malabar. Perguntava à sua amiga Neves quem era o tolo que lhe escrevia; e, rindo com a garridice arisca dos dezesseis anos, dizia que seria grande pagode mangar com ele, respondendo-lhe às cartas.
A mana do cego segredava ao irmão:
— Olha que a velha é tola, mano Antônio; trata de cortar os voadouros à cegonha; senão, hás de vê-la voar aos braços do quarto marido.
— O quarto marido hei de ser eu! — disse o cego com uma visagem de mártir voluntário. — Hei de ser eu o quarto marido — repetiu ele, tragando um copo de rum para ganhar alma —, porque, a ter de entrar nesta casa o espectro da miséria, é melhor que entre Joana Tecla. Não me lembra como se chamava um cego que dava graças a Deus porque não podia ver um certo tirano; eu também as dou, porque não posso ver a minha noiva. — E enchia o copo esvaziado, mascava o charuto e fazia com as duas pernas um curso de geometria. — Sacrifico-me a ti e aos meus filhos. Vou ser o bode expiatório das minhas e as vossas prodigalidades; mas levo a certeza de que ela ao menos me será esposa fiel — o que é raro antes dos setenta anos. O seu terceiro defunto disse-me que Tecla era uma paz de alma, bruta, sim, mas boa. Enfim, mana, sonda-ma; vê se lhe achas vontade de casar quarta vez.
— Tomara ela! — acudiu a irmã. — Está sempre a dizer: “Isto de mulher sem homem é como peixe fora de água.” Põe papelotes todas as noites e faz caracóis quando se ergue. Que quer isto dizer? Queres que eu lhe toque no casamento contigo?
Toca; que eu começo hoje a fazer-lhe a corte.
Na tarde desse dia, passeava Monteiro, debaixo da parreira do seu quintal, pelo braço da viúva. As calhandras e os pintassilgos trilavam os seus requebros às margens do rio Pele. As rãs coaxavam nas poças e as auras ciciavam na ramaria dos álamos. Era uma tarde de tirar amores do olho de uma couve lombarda.
Passeavam silenciosos, quando ao longe, no pinhal do mosteiro, cantou um cuco.
— Olhe o cuquinho a cantar! — disse ela com meiguice.
— Gosta de ouvir o cuco, Sra. D. Tecla? — perguntou o cego.
— Eu gosto de toda a passarinhada — respondeu ela com as denguices infantis da Lili de Goethe.
— O cuco é pássaro de mau agouro! — disse ele. — Eu, com medo de tal ave, não quis casar.
Tecla riu-se descompassadamente, provando que conhecia a linguagem simbólica da ave agoureira. E o cego, nesta entreaberta de galhofa, beliscou-lhe a polpa do braço esquerdo.
— Ai! — exclamou ela. — Isto que foi?!
— Não se ria assim das fraquezas do próximo, Joaninha! —respondeu o cego, dando ao beliscão o ar inocente de um gracejo familiar. — Eu não quis casar nunca porque o meu coração nunca sentiu ao perto nem ao longe a mulher digna dele. Cheguei aos cinquenta e dois anos, pode-se dizer, sem ouvir a este coração as palpitações que estou agora ouvindo. E a primeira vez… — e estreitava-lhe o braço contra o lado esquerdo com umas pressões trêmulas —, e a primeira vez que amo; porque é esta a primeira vez que encontro a mulher, a esposa digna da minha ternura. Que me responde, Tecla? Não me responde, prenda adorada? — instava ele, sacudindo-lhe a mão com transporte.
A viúva inclinou a face para o seio, deixou-se apertar com o indolente abandono das suas faculdades sensitivas, esteve impando como quem suspira a custo e murmurou:
— Devagar se vai ao longe, Sr. Monteiro.
CAPÍTULO 10
Aquilo foi depressa. O fervor recíproco dos noivos e o preceito do poeta pagão que manda não adiar os prazeres abreviaram quanto possível a identificação das duas almas. O reitor, que os recebeu, era um padre bom a jovial que está a estes noivos disse o que dizia a todos: “Eu espero o vosso primeiro filho daqui a nove meses.” A noiva entreabriu à flor dos beiços um hipotético sorriso de pudor; o cego, porém, ferido na infecundidade da esposa, disse, carregando o rosto:
— Neste ato, Sr. Reitor, são impróprias as chalaças.
O padre, querendo emendar eruditamente a inadvertência, respondeu:
— As Santas Escrituras falam de Sara…
— Eu não sou Abraão — replicou o cego, voltando-lhe as costas.
Reverdeceram os contentamentos da mesa lauta e das intimas palestras ao fogão. D. Tecla Monteiro confessava que nunca tão felizes lhe derivaram os dias da existência. O cego sentia-se docemente ameigado e bem, com o rosto no regaço da esposa. Saboreava os santos aconchegos da companheira canônica. Revendia-lhe o ninho dos seus amores lícitos um patriarquismo anterior ao sacramento do matrimônio, é verdade, mas puro como os conúbios de Jacob e Lia, de Rute e Bom. Ela não o idolatrava como maior frenesi, mas aquecia-lhe no Inverno os lençóis com botijas e de manha levava-lhe uma chávena de sagu, que pessoalmente cozinhava com todos os primores de uma vocação especial para os mingaus.
Na venda das propriedades liquidara Monteiro menos do seu valor; mas ainda assim não desceu de vinte contos de réis o dote da esposa. Parte deste capital empregou-o numa quinta no Alto Douro, outra pane na reincidência de pleitos que havia perdido e o restante nas opulências da mesa e nas liberalidades com os renovados amigos. Do mesmo passo que a opinião pública encarecia a velhacaria do cego, formava-se uma confederação de sujeitos que lhe exploravam a perdulária generosidade. Emprestava facilmente dinheiro e não negava esmola, nem se desculpava com a falta de cobres. “Tal desculpa seria boa”, disse ele, “se os mendigos se ofendessem com as pratas.” E também dizia: “Ninguém dá esmolas mais às escondidas do que eu, porque nem vejo as pessoas a quem as dou!” Triste gracejo proferido por um cego.
Pinto Monteiro, que tanto refinara em astúcias, no último quartel da vida deixava-se enganar por qualquer velhaco montezinho. A quinta do Alto Douro, comprada por seis contos de réis, foi uma venda fraudulenta: a propriedade estava hipotecada à Fazenda Nacional e o vendedor, apresentando títulos falsos, recebeu o dinheiro no Porto e fugiu. Os convivas do cego rejubilavam a cada arremesso novo que a desfortuna lhe dava para a pobreza e as pessoas contemplativas observavam às incrédulas que o enorme delinquente estava sofrendo retaliações providenciais. É de crer que sim.
Lance admirável! Pinto Monteiro mantinha serenidade socrática e impertérrita a cada lançada que lhe resvalava na rodela da filosofia. Se a irmã ou a esposa choravam, e ele dava tento disso, dizia-lhes: “É uma vergonha chorar quando a vida é tão curta! As dores são um sonho mau de que se acorda na sepultura.”
Ao sentir desfibrar-se-lhe a corda tenaz da paciência, digna de um cristão, emborcava garrafas de genebra e fumava sempre até cair marasmado pelo álcool e pela nicotina; mas, se antes da prostração se exaltava em desvarios de ébrio, as frases refloresciam os raptos de eloquência que aos vinte e cinco anos o arrebatavam nos clubes fluminenses. Nestas ocasiões, projetava ir ao Parlamento, e ensaiava discursos tão bonitos que pareciam ser decorados no Diário das Câmaras. As vezes pedia à mulher e à irmã que lhe fizessem “apares” para o picarem. A boa D. Tecla dava-lhe para se rir, ou pedia-lhe amorosamente que se deitasse — pedido que a gente não pode fazer a todos os oradores parlamentares.
Nestas intermitências, quase sempre risonhas, se passavam os dias e boa parte das noites naquela murmurosa casa de Landim. D. Tecla desmentira os vaticínios que a deploravam, esbulhada do dote e abandonada à piedade do Asilo das Velhas do Camarão. Não teve uma hora de tristeza esta senhora; nem sequer ligeira borrasca de ciúme, em sete anos de casada, lhe nublou as suas alegrias de esposa leal. As setenta e seis primaveras seguiu-se um inverno rigoroso de catarrais e gota, com perturbações no aparelho digestivo, timpanites e cólicas flatulentas. A morte arrebatou-a em dezembro de 1861 dos braços do marido, que, pela primeira vez na sua vida, chorou.
CAPÍTULO 11
Sete anos de glacial solidão gearam sobre a alma de Pinto Monteiro. As portas da sua casa raro se abriam. Concordemente se disse que o cego estava pobre pela terceira vez. Era verdade: estava pobre — vendia o restante das joias da mulher.
Às vezes entrava naquela casa a Narcisa do Bravo, sentava-se à mesa ainda abundante do padrinho e matava a fome. A irmã do cego debulhava-se em choro a confrontar aquela desgraçada de rosto empolado com esfoliações rubras à formosa noiva de Custódio da Carvalha, à gentil amazona por amor de quem alguns fidalgos de Guimarães terçaram as suas badines de cauchu na romaria de São Torquato.
Sobre todas as famas repelentes, ganhara Narcisa, com legítimo o direito, a de ladra, e ladra à mão armada. Os mais queixosos eram os que lhe colheram as flores já outoniças da beleza e a rejeitaram com a brutalidade do tédio. Narcisa saía-lhes de rosto nas concavidades das congostas escuras e abocava-lhes à cara uma pistola de dois canos: e eles, com um fingido sorriso de piedade desprezadora, atiravam-lhe a forçada esmola. Outras vezes, escalava as janelas das alcovas conhecidas e entrouxava os bragais como se inventariasse o espólio de um esposo falecido. E temiam-na como para um celerado disposto a vender cara a vida, porque ela deixava entrever a coronha da pistola entre os atacadores do colete escarlate e, se sofraldava as saias, quando saltava as poldras dos ribeiros, mostrava a faca de ponta atravessada na liga. Os regedores das freguesias que ela frequentava tinham ordem da capturarem; mas o medo, predicado pacífico destes magistrados, era a ressalva de Narcisa.
O cego de Landim não ignorava a desastrosa saída da sua afilhada; conselhos, naquela extremidade, eram perdidos; censuras, a si próprio as fazia o cego porque encetara a perdição daquela rapariga, tirando-a da arribana do seu pai, para a criar nas regalias da abundância, sem vislumbres de religião, em plena liberdade de se viciar com as travessuras e gaiatices que lhe festejavam. Narcisa era talvez uma das polés que torturaram o cego nas impenetráveis agonias dos seus últimos seis anos.
Contava um rapazinho, criado de Pinto Monteiro, que ouvira, uma vez, a sua ama dizer a Narcisa que ia mandar vender dois cobertores porque não havia dinheiro em casa; e que Narcisa lhe dissera que não vendesse os cobertores, porque ela ia vender a sua pistola por meia moeda. Não tenho outro lance generoso que possa referir de Narcisa do Bravo.
Quando este caso passou, entrava Antônio José Pinto Monteiro nos paroxismos da morte. A 28 de novembro de 1868, pelas dez horas da manhã, disse à irmã que lhe acendesse um cigarro e abrisse as janelas, que sentia grande calor e ânsia. Sentou-se no leito e inspirou consoladoramente a coluna de ar frigidíssimo que lhe bateu no rosto, ao abrir da janela. Pediu uma chávena de café, e, enquanto a irmã o fazia, Narcisa veio para a beira do padrinho.
— Quem é? — perguntou o cego.
— Sou eu, padrinho. Está melhor?
— Vou estar melhor, filha. Isto vai acabar. Quando eu morrer, faz companhia à minha pobre irmã.:.
Narcisa chorava, beijando a mão do cego, que se estorcia nas, dores da cistite. Ao cair da noite, a prostração, a febre, os soluços e o frio das extremidades diagnosticavam a gangrena. No 1º de dezembro, o cego de Landim expirou reclinado ao seio de Narcisa, que se sentara no leito para o amparar nos derradeiros arrancos.
As suas últimas palavras, no delírio que precedeu a morte, encerram toda a moralidade desta biografia:
— Eu tinha três filhos que criei com tanto amor… Que é deles?…
E mais nada.
Os três filhos do cego de Landim afrontar-se-iam com o nome do seu pai? Para ter um peito amigo que o amparasse na agonia, foi mister que a sociedade remessasse para dentro da alcova do moribundo uma mulher perdida. Mas, lá ao longe, no Brasil, houve lágrimas saudosas, no coração de uma filha. Pois quando é que Deus consentiu que uma filha as não chorasse… num epitáfio?
***
CONCLUSÃO
No cemitério de Landim está uma sepultura com este letreiro:
AQUI JAZ
ANTÔNIO JOSÉ PINTO MONTEIRO
NASCEU
A 11 DE DEZEMBRO DE 1808
FALECEU
A 1 DE DEZEMBRO DE 1868
TRIBUTO DE GRATIDÃO
DE ETERNA SAUDADE
QUE LHE DEDICA A SUA
INCONSOLÁVEL FILHA
GUILHERMINA.
Ana das Neves ideara uma perspectiva de felicidades: viver os restantes anos em recatada pobreza, morrer mais desamparada que o irmão e ser levada como quem remove um entulho ali para aquela sepultura onde se pulverizavam os ossos execrados do cego.
Estas felicidades não as goza quem quer.
Um dia, a justiça, perseguindo Narcisa pelo roubo de uma coberta de felpo, soube que a Neves a mandara vender. A ordem de captura envolveu-a como receptadora de roubos. Invadiram-lhe judicialmente a casa e encontraram, para maior prova do crime, um açafate de maçãs camoesas, dois calondros e algumas batatas que Narcisa recolhera, de colheita aliás suspeitosa, nas lojas da casa da sua protetora. A irmã do cego foi capturada e, sem fiança, encarcerada na lôbrega enxovia de Famalicão. Dias depois, davam-lhe a companhia de Narcisa, que se entregara à prisão, arrojando a pistola, quando lhe disseram que a Neves estava presa. O juiz misericordioso condenou-as a oito meses de prisão, dado que os jurados as sobrecarregassem de crimes beneméritos de degredo perpétuo.
Cumprida a sentença, D. Ana das Neves Miquelina Monteiro vendeu a casa que o irmão comprara em nome dela. Com o produto dessa venda transferiu-se, em 1872, ao Brasil, e levou consigo Narcisa na Bravo. Parece que não tinha outros amores neste mundo e desejava expirar, como o seu irmão, nos braços dela.
E visto que não estamos dispostos a deixá-la morrer nos nossos braços, ó leitor, parece-me caridosa coisa que a não fulminemos com a nossa honrada raiva. Sou de opinião que sejamos inexoravelmente severos com os desgraçados e com as desgraçadas, quando eles e elas repelirem a felicidade que nós lhes oferecermos.
Pesquisa e atualização ortográfica: Iba Mendes (2017)