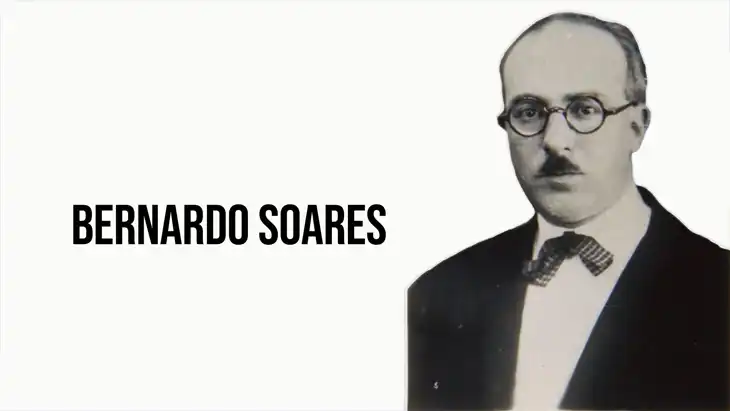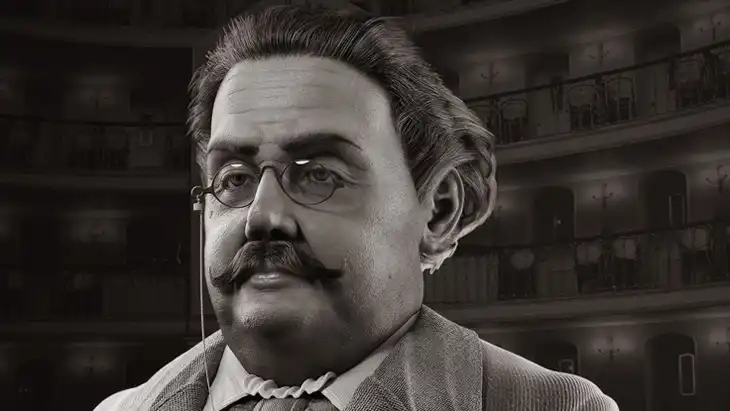“No Maranhão” – Aluísio Azevedo

No Maranhão
Quando eu tinha treze anos, lá na província, uma das famílias que mais intimamente se dava com a minha era a do velho Cunha, um bom homem, já afastado do comércio a retalho onde fizera o seu pecúlio, e casado com uma senhora brasileira, D. Mariana.
Tinham um casal de filhos: Luís e Rosa, ou Rosinha, como lhe chamávamos. Luís era mais velho que a irmã apenas um ano e mais moço do que eu apenas meses.
Fomos por bem dizer criados juntos, porque, quando não era eu que ia visitá-los, eram eles dois que vinham passar o dia comigo.
Morava na praia de Santo Antônio, num grande e belo sobrado, cujos fundos, como o de todas as casas do litoral da ilha do Maranhão, davam diretamente para o mar.
O Cunha, além desta casa, que era de sua propriedade, tinha um sítio onde ia freqüentemente passear com a família.
Quase sempre levavam-me também. O sítio chamava-se “Boa-Vinda” e ficava à margem do rio Anil, para além de Vinhais. Embarcava-se no próprio quintal da casa.
Estes passeios à Boa-Vinda constituíam um dos maiores encantos da minha infância. Criado à beira-mar na minha ilha, eu adorava a água; aos doze anos era já valente nadador, sabia governar um escaler ou uma canoa, amainar com destreza a vela num temporal, e meu remo não se deixava bater facilmente pelo remo de pá de qualquer jacumaúba pescador de piabas.
Saíamos quase sempre no segredo da primeira madrugada e chegávamos ao sítio ao repontar do sol.
Ah! que deliciosos passeios! Que belas manhãs frescas, deslizadas por entre os mangais, sentindo-se recender forte o odor salgado das maresias! E depois, lá no sítio, instalados na varanda de telha-vã, que prazer não era devorar o almoço, assentados todos em bancos de pau, de volta de uma mesa coberta de linho claro, a beber-se o vinho novo do caju por grandes canecas de terra vermelha! E depois – toca a brincar! toca a correr por aí a fora, em pleno mato, cabelos ao vento, corpo e coração à larga!
E, à tarde, depois do jantar, quando a natureza principiava a cair nos desfalecimentos chorosos do crepúsculo, vínhamos todos assentar-nos na eira, defronte da casa, ouvindo o pio mavioso e plangente das sururinas que se acoitavam para dormir nas matas próximas. Então, Luís ia buscar a sua flauta, Rosinha o seu violão, e eu, acompanhado por eles, punha-me a cantar as modas mais bonitas de minha terra.
D. Mariana e o Cunha gostavam de ouvir-me cantar. Nesse tempo a minha voz tinha ainda, como minha alma, toda a frescura da inocência.
À noite, enfim, metiam-se de novo no balaio as vasilhas do farnel, carregava-se com tudo para bordo da canoa, estendia-se por cima uma vela de lona, em que nos assentávamos os três, Luís, a irmã e eu; o Cunha tomava conta do leme, com a mulher ao lado; três escravos encarregavam-se dos remos; e rebatíamos para a cidade.
Tanto era risonha e viva a ida pela manhã, quanto era arrastada e quase triste a volta pela noite. D. Mariana começava a cabecear de sono; o Cunha punha-se a falar conosco sobre as nossas obrigações de aula no dia seguinte; Luís em geral deitava-se com a cabeça no regaço da irmã; e eu esticava-me sobre a lona, de rosto para o céu, a olhar as estrelas.
Uma noite voltávamos do sítio nessas condições. Mas havia luar.
E que luar! Desse que parece feito para quem anda embarcado; desse que vai espalhando pelo caminho adiante brancos fantasmas que soluçam, correndo pelas águas, surgindo e desaparecendo com as suas mortalhas de prata, numa agonia de morte, como se fossem as almas aflitas dos afogados.
Tínhamos já passado Vinhais havia muito e íamos agora deixando atrás de nós, uma por uma, todas as velhas quintas do Caminho-Grande, que dão um lado para o Anil. D. Mariana toscanejava como de costume, recostada numa almofada, o rosto pousado na palma da mão; Rosinha, com um braço fora da canoa, brincava pensativa, com as pontas dos dedos na orla fosforescente que se fazia nas águas a cada rumorosa braceagem dos remos; Luís cantarolava distraído; o velho Cunha, vergado sobre o braço do leme, com o seu grande chapéu de carnaúba derreado para a nuca, a camisa e o casaco de brim pardo abertos sobre o peito, fitava as praias que íamos percorrendo, como se a beleza daquela noite do Norte e a solidão daquele formoso rio azul lhe enleassem traiçoeiramente o espírito burguês, fazendo o milagre de arrebatá-lo para um devaneio contemplativo e poético.
Qual! No fim de longo recolhimento, quando passávamos em certa altura do rio, disse-me ele com um suspiro de lástima:
– Que desperdício de dinheiro e quanta incúria vai por aqui!… Vês aquelas ruínas cobertas de mato? aqui foi principiado há bem quarenta anos para um grande armazém de alfândega… nunca passou do começo! Teve a mesma sorte do cais da Sagração e do dique das Mercês! Que gente!
E eu pus-me a considerar as ruínas, que pareciam crescer à luz do luar; e o Cunha, possuído de uma febre de censura, continuava a derramar pelas tristes águas do Anil a sua cansada indignação contra os malditos presidentes de província, que tão mal cuidavam da nossa pobre e querida capital.
E, à marcha monótona e vagarosa da canoa, ia-se desdobrando lentamente ao lado de nós todo o flanco alcantilado da cidade.
Surgiu à distância o largo dos Remédios, elevando-se da praia como um velho baluarte dos tempos guerreiros.
Ouvia-se já um rumor tristonho de casuarinas.
– Está ali! exclamou o Cunha estendendo o braço para o lado de terra. Para que esbanjar dinheiro com uma estátua daquela ordem, quando há por aí tanta cousa de necessidade séria de que se não cuida?…
Olhei a direção que o Cunha indicava e vi a estátua de Gonçalves Dias, erguida no meio do largo dos Remédios, toda branca, muito alta, triste ao luar como a solitária coluna de um túmulo.
Não achei ânimo nem palavras para protestar contra o que dizia o velho Cunha. De Gonçalves Dias sabia apenas que fora um poeta infeliz e nada mais.
– É! rosnou o pobre homem. Para o luxo de encarapitar aquele grande boneco no tope daquele imenso canudo de mármore houve dinheiro! E dinheiro grosso! Todo o povo do Maranhão concorreu! Ao passo que para concluir o trapiche de Campos Melo, que é uma necessidade reclamada todos os dias pelo comércio, não apareceu ainda quem se mexesse? Súcia de doidos! Isto é uma cousa tão revoltante que eu confesso, chego quase a arrepender-me de me ter naturalizado!
Tornei a olhar para a estátua e, não sei porque, as palavras do velho Cunha não me produziram desta vez a impressão de respeito que costumavam exercer sobre o meu espírito de criança. Pungia-me aquilo até como uma blasfêmia cuspida sobre uma imagem sagrada. Lá em casa de minha família todos veneravam a memória do nosso poeta, e na escola onde eu aprendia a escrever a língua portuguesa o meu próprio mestre lhe chamava a ele mestre.
No entanto, não opus uma palavra de defesa; mas, fitando agora de mais perto a branca figura de pedra, que na sua mudez gloriosa encara aquele mesmo mar que serviu de sepultura ao cantor das palmeiras de minha terra, achei-lhe o ar tão tranqüilo, tão superior, tão distante de mim e do Cunha, que balbuciei para este timidamente:
– Mas, seu Cunha, se o povo lhe fez aquela estátua, é porque ele naturalmente a mereceu, coitado!
– Mereceu?! Por quê? O que foi que ele fez?… “Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá”?! Está aí o que ele fez! Fez versos!
E o Cunha, no auge da sua indignação, redobrou de fúria contra a loucura dos homens, que levantavam estátuas a poetas em vez de cuidar dos trapiches que o comércio a retalho reclamava.
Nesse instante a canoa deslizava justamente por defronte do largo dos Remédios.
A lua, perdida e só no meio do céu luminoso, banhava no seu misterioso eflúvio a imóvel e branca figura de mármore.
E Rosinha, que não prestara atenção à nossa conversa, abriu a cantar, com a sua voz cristalina de donzela, uma das cantigas mais populares do Brasil:
“Se queres saber os meios
Porque às vezes me arrebata
Nas asas do pensamento
A poesia tão grata;
Porque vejo nos meus sonhos
Tantos anjinhos dos céus,
vem comigo, oh doce amada
Que eu te direi os caminhos
Donde se enxergam os anjinhos,
Donde se trata com Deus.”
E aquela menina, na sua virginal singeleza, estava desafrontando Gonçalves Dias, porque são dele os versos que ela ia cantando aos pés da sua estátua, inocentemente; rendendo, sem saber, enquanto o pai o amaldiçoava, o maior preito que se pode render a um poeta: repetir-lhe os versos, sem indagar quem os fez.
Não sou supersticioso, nem o era nesse tempo, apesar dos meus treze anos, mas quis parecer-me que naquele momento a estátua sorriu.
Efeitos do luar, naturalmente.