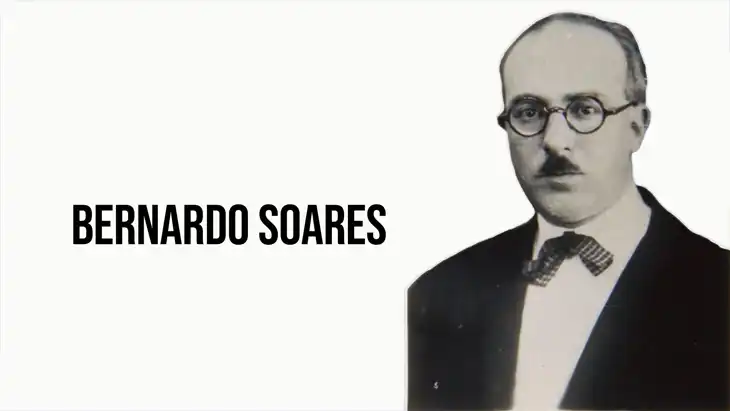“A Rua” – João do Rio

A Rua
Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia – o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia, Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua.
A rua! Que é a rua? Um cançonetista de Montmartre fá-la dizer:
Je suís la rue, femme êternellement verte,
Je n’ai jamais trouvé d’autre carrière ouverte
Sinon d’être la rue, et, de tout temps, depuis
Que ce pénible monde est monde, je la suis…
A verdade e o trocadilho! Os dicionários dizem: “Rua, do latim ruga, sulco. Espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia”. E Domingos Vieira, citando as Ordenações: “Estradas e rua pruvicas antiguamente usadas e os rios navegantes se som cabedaes que correm continuamente e de todo o tempo pero que o uso assy das estradas e ruas pruvicas”. A obscuridade da gramática e da lei! Os dicionários só são considerados fontes fáceis de completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o primeiro, abri o segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei infolios especiais de curiosidade. A rua era para eles apenas um alinhado de fachadas por onde se anda nas povoações.
Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma! Em Benares ou em Amsterdão, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. Não paga ao Tamagno para ouvir berros atenorados de leão avaro, nem à velha Patti para admitir um fio de voz velho, fraco e legendário. Bate, em compensação, palmas aos saltimbancos que, sem voz, rouquejam com fome para alegrá-la e para comer. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para enclausurar expressões; os prosadores bradam contra os Cândido. A rua continua, matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássico dos léxicons futuros. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no adejar das árvores e no trinar dos pássaros.
A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopéia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todas as blagues todos os lugares-comuns. Foi ela que fez a majestade dos rifões, dos brocardos, dos anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua não passam os sábios, e os charlatães, que a lisonjeiam lhe resumem a banalidade, são da primeira ocasião desfeitos e soprados como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, desvaria à noite, treme com a febre dos delírios, para ela como para as crianças a aurora é sempre formosa, para ela não há o despertar triste, quando o sol desponta e ela abre os olhos esquecida das próprias ações, é, no encanto da vida renovada, no chilrear do passaredo, no embalo nostálgico dos pregões – tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos…
A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e pode rir, francamente, depois de ter conhecido todos os males da cidade, poeira d’ouro que se faz lama e torna a ser poeira – a rua criou o garoto!
Essas qualidades nós as conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessante dos esportes – a arte de flanar. É fatigante o exercício?
Para os iniciados sempre foi grande regalo. A musa de Horácio, a pé, não fez outra coisa nos quarteirões de Roma. Sterne e Hoffmann proclamavam-lhe a profunda virtude, e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando. Flanar! Aí está um verbo universal sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua! Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do Cassino vestido de turco, gozar nas praças os ajuntamentos defronte das lanternas mágicas, conversar com os cantores de modinha das alfurjas da Saúde, depois de ter ouvido dilettanti de casaca aplaudirem o maior tenor do Lírico numa ópera velha e má; é ver os bonecos pintados a giz nos muros das casas, após ter acompanhado um pintor afamado até a sua grande tela paga pelo Estado; é estar sem fazer nada e achar absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá ir, levado pela primeira impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par jovem cujo riso de amor causa inveja.
É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na mente dez mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. Do alto de uma janela como Paul Adam, admira o caleidoscópio da vida no epítome delirante que é a rua; à porta do café, como Poe no Homem da Multidões, dedica-se ao exercício de adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos transeuntes. É uma espécie de secreta à maneira de Sherlock Holmes, sem os inconvenientes dos secretas nacionais. Haveis de encontrá-lo numa bela noite numa noite muito feia. Não vos saberá dizer donde vem, que está a fazer, para onde vai. Pensareis decerto estar diante de um sujeito fatal? Coitado! O flâneur é o bonhomme possuidor de uma alma igualitária e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a face misteriosa e cada vez mais se convence da inutilidade da cólera e da necessidade do perdão.
O flâneur é ingênuo quase sempre. Pára diante dos rolos, é o eterno “convidado do sereno” de todos os bailes, quer saber a história dos boleiros, admira-se simplesmente, e conhecendo cada rua, cada beco, cada viela, sabendo-lhe um pedaço da história, como se sabe a história dos amigos (quase sempre mal), acaba com a vaga idéia de que todo o espetáculo da cidade foi feito especialmente para seu gozo próprio. O balão que sobe ao meio-dia no Castelo, sobe para seu prazer; as bandas de música tocam nas praças para alegrá-lo; se num beco perdido há uma serenata com violões chorosos, a serenata e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem entrever, o flâneur reflete. As observações foram guardadas na placa sensível do cérebro; as frases, os ditos, as cenas vibram-lhe no cortical. Quando o flâneur deduz, ei-lo a concluir uma lei magnífica por ser para seu uso exclusivo, ei-lo a psicologar, ei-lo a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas. E é então que haveis de pasmar da futilidade do mundo e da inconcebível futilidade dos pedestres da poesia de observação…
Eu fui um pouco esse tipo complexo, e, talvez por isso, cada rua é para mim um ser vivo e imóvel.
Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem.
Por que nascem elas? Da necessidade de alargamento das grandes colmeias sociais, de interesses comerciais, dizem. Mas ninguém o sabe. Um belo dia, alinha-se um tarrascal, corta-se um trecho de chácara, aterra-se lameiro, e aí está: nasceu mais uma rua. Nasceu para evoluir, para ensaiar primeiros passos, para balbuciar, crescer, criar uma individualidade. Os homens têm no cérebro a sensação dessa semelhança, e assim como dizem de um rapagão:
– Quem há de pensar que vi este menino a engatinhar!
Murmuram:
– Quem há de dizer que esta rua há dez anos só tinha uma casa!
Um cavalheiro notável, ao entrar comigo certa vez na Rua Senador Dantas, não se conteve:
– É impossível passar por aqui sem lembrar que a velhice começa a chegar. Quando vim da província esta rua tinha apenas duas casas no antigo jardim do Convento, e eu tomava chopps no Guarda Velha a três vinténs!
Eu sorria, mas o pobre sujeito importante dizia isso como se recordasse os dois primeiros dentes de um homenzarrão, com uma dentadura capaz atualmente de morder as algibeiras de uma sociedade inteira. Era a recordação, a saudade do passado começo. Há nada mais enternecedor que o princípio de uma rua? É ir vê-lo nos arrabaldes. A princípio capim, um braço a ligar duas artérias. Percorre-o sem pensar meia dúzia de criaturas. Um dia cercam à beira um lote de terreno. Surgem em seguida os alicerces de uma casa. Depois de outra e mais outra. Um combustor tremeluz indicando que ela já se não deita com as primeiras sombras. Três ou quatro habitantes proclamam a sua salubridade ou o seu sossego. Os vendedores ambulantes entram por ali como por terreno novo a conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama ou o capim. É o batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram num dos seus quintais. É a estréia na celebridade, que exige o calçamento ou o prolongamento da linha de bondes. E insensivelmente, há na memória da produção, bem nítida, bem pessoal, uma individualidade topográfica a mais, uma individualidade que tem fisionomia e alma.
Algumas dão para malandras, outras para austeras; umas são pretensiosas, outras riem aos transeuntes e o destino as conduz como conduz o homem, misteriosamente, fazendo-as nascer sob uma boa estrela ou sob um signo mau, dando-lhes glórias e sofrimentos, matando-as ao cabo de um certo tempo.
Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, que ficam sem pinga de sangue…
Vede a Rua do Ouvidor. É a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, tomando parte em tudo, mas desertando, correndo os taipais das montras à mais leve sombra de perigo. Esse beco inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade da bravata. E fatalmente oposicionista, criou o boato, o “diz-se…” aterrador e o “fecha-fecha” prudente. Começou por chamar-se Desvio do Mar. Por ela continua a passar para todos os desvios muita gente boa. No tempo em que os seus melhores prédios se alugavam modestamente por dez mil réis, era a Rua do Gadelha. Podia ser ainda hoje a Rua dos Gadelhas, atendendo ao número prodigioso de poetas nefelibatas que a infestam de cabelos e de versos. Um dia resolveu chamar-se do Ouvidor sem que o senado da câmara fosse ouvido. Chamou-se como calunia, e elogia, como insulta e aplaude, porque era preciso denominar o lugar em que todos falam de lugar do que ouve; e parece que cada nome usado foi como a antecipação moral de um dos aspectos atuais dessa irresponsável artéria da futilidade.
A Rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos nós, nela passaram os vice-reis malandros, os gananciosos, os escravos nus, os senhores em redes; nela vicejou a imundície, nela desabotoou a flor da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio ignorante e bestial, o primeiro balbucio da cidade foi um grito de misericórdia, foi um estertor, um ai! tremendo atirado aos céus. Dela brotou a cidade no antigo esplendor do Largo do Paço, dela decorreram, como de um corpo que sangra, os becos humildes e os coalhos de sangue, que são as praças, ribeirinhas do mar. Mas, soluço de espancado, primeiro esforço de uma porção de infelizes, ela continuou pelos séculos afora sempre lamentável, e tão augustiosa e franca e verdadeira na sua dor que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém, ninguém se lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele grito de mendiga velha: – Misericórdia!
Há ruas que mudam de lugar, cortam morros, vão acabar em certos pontos que ninguém dantes imaginara – a Rua dos Ourives; há ruas que, pouco honestas no passado, acabaram tomando vergonha – a da Quitanda. Essa tinha mesmo a mania de mudar de nome. Chamou-se do Açougue Velho, do lnácio Castanheira, do Sucusarrará, do Tomé da Silva, que sei eu? Até mesmo Canto do Tabaqueiro. Acabou Quitanda do Marisco, mas, como certos indivíduos que organizam o nome conforme a posição que ocupam, cortou o marisco e ficou só Quitanda. Há ruas, guardas tradicionais da fidalguia, que deslizam como matronas conservadoras – a das Laranjeiras; há ruas lúgubres, por onde passais com um arrepio, sentindo o perigo da morte – o Largo do Moura por exemplo. Foi sempre assim. Lá existiu o Necrotério e antes do Necrotério lá se erguia a Forca. Antes da autópsia, o enforcamento. O velho largo macabro, com a alma de Tropmann e de Jack, depois de matar, avaramente guardou anos e anos, para escalpelá-los, para chamá-los, para gozá-los, todos os corpos dos desgraçados que se suicidam ou morrem assassinados. Tresanda a crime, assusta. A Prainha também. Mesmo hoje, aberta, alargada com prédios novos e a trepidação contínua do comércio, há de vos dar uma impressão de vago horror. À noite são mais densas as sombras, as luzes mais vermelhas, as figuras maiores. Por que terá essa rua um aspecto assim? Oh! Porque foi sempre má, porque foi sempre ali o Aljube, ali padeceram os negros dos três primeiros trapiches do sal, porque também ali a forca espalhou a morte!
Há entretanto outras ruas, que nascem íntimas, familiares, incapazes de dar um passo sem que todas as vizinhas não saibam. As ruas de Santa Teresa estão nestas condições. Um cavalheiro salta no Curvelo, vai a pé até o França, e quando volta já todas as ruas perguntam que deseja ele, se as suas tenções são puras e outras impertinências íntimas. Em geral, procura-se o mistério da montanha para esconder um passeio mais ou menos amoroso. As ruas de Santa Teresa, é descobrir o par e é deitar a rir proclamando aos quatro ventos o acontecimento. Uma das ruas, mesmo, mais leviana e tagarela do que as outras, resolveu chamar-se logo Rua do Amor, e a Rua do Amor lá está na freguesia de S. José. Será exatamente um lugar escolhido pelo Amor, deus decadente? Talvez não. Há também na freguesia do Engenho Velho uma rua intitulada Feliz Lembrança e parece que não a teve, segundo a opinião respeitável da poesia anônima:
Na Rua Feliz Lembrança
Eu escapei por um triz
De ser mandado à tábua.
Ai! que lembrança infeliz
Tal nome pôr nesta rua!
Há ruas que têm as blandícias de Goriot e de Shylock para vos emprestar a juro, para esconder quem pede e paga o explorador com ar humilde. Não vos lembrais da Rua do Sacramento, da rua dos penhores? Uma aragem fina e suave encantava sempre o ar. Defronte à igreja, casas velhas guardavam pessoas tradicionais. No Tesouro, por entre as grades de ferro, uma ou outra cara desocupada. E era ali que se empenhavam as jóias, que pobres entes angustiados iam levar os derradeiros valores com a alma estrangulada de soluços; era ali que refluíam todas as paixões e todas as tristezas, cujo lenitivo dependesse de dinheiro…
Há ruas oradoras, ruas de meeting – o Largo do Capim que assim foi sempre, o Largo de S. Francisco; ruas de calma alegria burguesa, que parecem sorrir com honestidade – a Rua de Haddock Lobo; ruas em que não se arrisca a gente sem volver os olhos para trás a ver se nos vêem –a Travessa da Barreira; ruas melancólicas, da tristeza dos poetas; ruas de prazer suspeito próximo do centro urbano e como que dele muito afastadas; ruas de paixão romântica, que pedem virgens loiras e luar.
Qual de vós já passou a noite em claro ouvindo o segredo de cada rua? Qual de vós já sentiu o mistério, o sono, o vício, as idéias de cada bairro?
A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias. Há trechos em que a gente passa como se fosse empurrada, perseguida, corrida – são as ruas em que os passos reboam, repercutem, parecem crescer, clamam, ecoam e, em breve, são outros tantos passos ao nosso encalço. Outras que se envolvem no mistério logo que as sombras descem – o Largo de Paço. Foi esse largo o primeiro esplendor da cidade. Por ali passaram, na pompa dos pálios e dos baldaquins d’ouro e púrpura, as procissões do Enterro, do Triunfo, do Senhor dos Passos; por ali, ao lado da Praia do Peixe, simples vegetação de palhoças, o comércio agitava as suas primeiras elegâncias e as suas ambições mais fortes. O largo, apesar das reformas, parece guardar a tradição de dormir cedo. À noite, nada o reanima, nada o levanta. Uma grande revolução morre no seu bojo como um suspiro; a luz leva a lutar com a treva; os próprios revérberos parece dormitarem, e as sombras que por ali deslizam são trapos da existência almejando o fim próximo, ladrões sem pousada, imigrantes esfaimados… Deixai esse largo, ide às ruelas da Misericórdia, trechos da cidade que lembram o Amsterdão sombrio de Rembrandt. Há homens em esteiras, dormindo na rua como se estivessem em casa. Não nos admiremos. Somos reflexos. O Beco da Música ou o Beco da Fidalga reproduzem a alma das ruas de Nápoles, de Florença, das ruas de Portugal, das ruas da África, e até, se acreditarmos na fantasia de Heródoto, das ruas do antigo Egito. E por quê? Porque são ruas da proximidade do mar, ruas viajadas, com a visão de outros horizontes. Abri uma dessas pocilgas que são a parte do seu organismo. Haveis de ver chineses bêbados de ópio, marinheiros embrutecidos pelo álcool, feiticeiras ululando canções sinistras, toda a estranha vida dos portos de mar. E esses becos, essas betesgas têm a perfídia dos oceanos, a miséria das imigrações, e o vício, o grande vício do mar e das colônias…
Se as ruas são entes vivos, as ruas pensam, têm idéias, filosofia e religião. Há ruas inteiramente católicas, ruas protestantes, ruas livres-pensadoras e até ruas sem religião. Trafalgar Square, dizia o mestre humorista Jerome, não tem uma opinião teológica definitiva. O mesmo se pode dizer da Praça da Concórdia de Paris ou da Praça Tiradentes. Há criatura mais sem miolos que o Largo do Rocio? Devia ser respeitável e austero. Lá, Pedro I, trepado num belo cavalo e com um belo gesto, mostra aos povos a carta da independência, fingindo dar um grito que nunca deu. Pois bem: não há sujeito mais pândego e menos sério do que o velho ex-Largo do Rocio. Os seus sentimentos religiosos oscilam entre a depravação e a roleta. Felizmente, outras redimem a sociedade de pedra e cal, pelo seu culto e o seu fervor. A Rua Benjamin Constant está neste caso, é entre nós um tremendo exemplo de confusão religiosa. Solene, grave, guarda três templos, e parece dizer com circunspecção e o ar compenetrado de certos senhores de todos nós conhecidos:
– Faço as obras do Coração de Jesus, creio em Deus, nas orações, nos bentinhos e só não sou positivista porque é tarde para mudar de crença. Mas respeito muito e admiro Teixeira Mendes…
Nós, os homens nervosos, temos de quando em vez alucinações parciais da pele, dores fulgurantes, a sensação de um contacto que não existe, a certeza de que chamam por nós. As ruas têm os rolos, as casas mal assombradas, e há até ruas possessas, com o diabo no corpo. Em S. Luís do Maranhão há uma rua sonâmbula muito menos cacete que a ópera célebre do mesmo nome. Essa rua é a Rua de Santa Ana, a lady Macbeth da topografia. Deu-se lá um crime horrível. Às dez horas, a rua cai em estado sonambúlico e é só gritos, clamores: sangue! sangue!
Ruas assim ainda mostram o que pensam. Talvez as outras tenham maiores delírios, mas são como os homens normais – guardam dentro do cérebro todos os pensamentos extravagantes. Quem se atreveria a resumir o que num minuto pensa de mal, de inconfessável, o mais honesto cidadão? Entre as ruas existem também as falsas, as hipócritas, com a alma de Tartufo e de Iago. Por isso os grandes mágicos do interior da África Central, que dos sertões adustos levavam às cidades inglesas do litoral sacos d’ouro em pó e grandes macacos tremendos, têm uma cantiga estranha que vale por uma sentença breve de Catão:
O di ti a uê, chê
F’u, a uá ny
Odé, odá, bi ejô
Sa lo dê
Sentença que em eubá, o esperanto das hordas selvagens, quer dizer apenas isto: rua foi feita para ajuntamentos. Rua é como cobra. Tem veneno. Foge da rua!
Mas o importante, o grave, é ser a rua a causa fundamental da diversidade dos tipos urbanos. Não sei se lestes um curioso livro de E. Demolins, Comment la route crée le type social. É uma revolução no ensino da Geografia. “A causa primeira e decisiva da diversidade das raças, diz ele, é a estrada, o caminho que os homens seguirem. Foi a estrada que criou a raça e o tipo social. Os grandes caminhos do globo foram, de qualquer forma, os alambiques poderosos que transformaram os povos. Os caminhos das grandes estepes asiáticas, das tundras siberianas, das savanas da América ou das florestas africanas insensivelmente e fatalmente criaram o tipo tártaro-mongol, o lapão-esquimó, o pele-vermelha, o índio, o negro”.
A rua é a civilização da estrada. Onde morre o grande caminho começa a rua, e, por isso, ela está para a grande cidade como a estrada está para o mundo. Em embrião, é o princípio, a causa dos pequenos agrupamentos de uma raça idêntica. Daí, em muitos sítios da terra as aldeias terem o único nome de rua. Quando aumentam e crescem depois, ou pela devoção da maioria dos habitantes ou por uma impressão de local, acrescentam ao substantivo rua o complemento que das outras as deve diferençar. Em Portugal esse fato é comum. Há uma aldeia de 700 habitantes no Minho que se chama modestamente Rua de S. Jorge, uma outra no Douro que é a Rua da Lapela, e existem até uma Rua de Cima e uma Rua de Baixo.
Nas grandes cidades a rua passa a criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões políticas. Vós todos deveis ter ouvido ou dito aquela frase:
– Como estas meninas cheiram a Cidade Nova!
Não é só a Cidade Nova, sejam louvados os deuses! Há meninas que cheiram a Botafogo, a Haddock Lobo, a Vila Isabel, como há velhas em idênticas condições, como há homens também. A rua fatalmente cria o seu tipo urbano como a estrada criou o tipo social. Todos nós conhecemos o tipo do rapaz do Largo do Machado: cabelo à americana, roupas amplas à inglesa, lencinho minúsculo no punho largo, bengala de volta, pretensões às línguas estrangeiras, calças dobradas como Eduardo VII e toda a snobopolis do universo. Esse mesmo rapaz, dadas idênticas posições, é no Largo do Estácio inteiramente diverso. As botas são de bico fino, os fatos em geral justos, o lenço no bolso de dentro do casaco, o cabelo à meia cabeleira com muito óleo. Se formos ao Largo do Depósito, esse mesmo rapaz usará lenço de seda preta, forro na gola do paletot, casaquinho curto e calças obedecendo ao molde corrente na navegação aérea – calças à balão.
Esses três rapazes da mesma idade, filhos da mesma gente honrada, às vezes até parentes, não há escolas, não há contactos passageiros, não há academias que lhes tranformem o gosto por certa cor de gravatas, a maneira de comer, as expressões, as idéias – porque cada rua tem um stock especial de expressões, de idéias e de gostos. A gente de Botafogo vai às “primeiras” do Lírico, mesmo sem ter dinheiro. A gente de Haddock Lobo tem dinheiro mas raramente vai ao Lírico. Os moradores da Tijuca aplaudem Sarah Bernhardt como um prodígio. Os moradores da Saúde amam enternecidamente o Dias Braga. As meninas das Laranjeiras valsam ao som das valsas de Strauss e de Berger, que lembram os cassinos da Riviera e o esplendor dos kursaals. As meninas dos bailes de Catumbi só conhecem as novidades do senhor Aurélio Cavalcante. As conversas variam, o amor varia, os ideais são inteiramente outros, e até o namoro, essa encantadora primeira fase do eclipse do casamento, essa meia ação da simpatia que se funde em desejo, é abolutamente diverso. Em Botafogo, à sombra das árvores do parque ou no grande portão, Julieta espera Romeu, elegante e solitária; em Haddock Lobo, Julieta garruleia em bandos pela calçada; e nas casas humildes da Cidade Nova, Julieta, que trabalhou todo o dia pensando nessa hora fugace, pende à janela o seu busto formoso…
Oh! sim, a rua faz o indivíduo, nós bem o sentimos. Um cidadão que tenha passado metade da existência na Rua do Pau Ferro não se habitua jamais à Rua Marquês de Abrantes! Os intelectuais sentem esse tremendo efeito do ambiente, menos violentamente, mas sentem. Eu conheci um elegante barão da monarquia, diplomata em perpétua disponibilidade, que a necessidade forçara a aceitar de certo proprietário o quarto de um cortiço da Rua Bom Jardim. O pobre homem, com as suas poses à Brummell, sempre de monóculo entalado, era o escândalo da rua. Por mais que saudasse as damas e cumprimentasse os homens, nunca ninguém se lembrava de o tratar senão com desconfiança assustada. O barão sentia-se desesperado e resumira a vida num gozo único: sempre que podia, tomava o bonde de Botafogo, acendia um charuto, e ia por ali altivo, airoso, com a velha redingote abotoada, a “caramela” de cristal cintilante… Estava no seu bairro. Até parece, dizia ele, que as pedras me conhecem!
As pedras! As pedras são a couraça da rua, a resistência que elas apresentam ao novo transeunte. Refleti que nunca pisastes pela primeira vez uma rua de arrabalde sem que o vosso passo fosse hesitante como que, inconscientemente, se habituando ao terreno; refleti nessas coisas sutis que a vida cria, e haveis de compreender então a razão por que os humildes limitam todo o seu mundo à rua onde moram, e por que certos tipos, os tipos populares, só o são realmente em determinados quarteirões.
As ruas são tão humanas, vivem tanto e formam de tal maneira os seus habitantes, que há até ruas em conflito com outras. Os malandros e os garotos de uma olham para os de outra como para inimigos. Em 1805, há um século, era assim: os capoeiras da Praia não podiam passar por Santa Luzia. No tempo das eleições mais à navalha que à pena, o Largo do Machadinho e a Rua Pedro Américo eram inimigos irreconciliáveis. Atualmente a sugestão é tal que eles se intitulam povo. Há o povo da Rua do Senado, o povo da Travessa do mesmo nome, o povo de Catumbi. Haveis de ouvir, à noite, um grupo de pequenos valentes armados de vara:
– Vamos embora! O povo da Travessa está conosco.
É a Rua do Senado que, aliada à Travessa, vai sovar a Rua Frei Caneca…
Como outrora os homens, mais ou menos notáveis, tomavam o nome da cidade onde tinham nascido – Tales de Mileto, Luciano de Samosata, Epicarmo de Alexandria – os chefes da capadoçagem juntam hoje ao nome de batismo o nome da sua rua. Há o José do Senado, o Juca da Harmonia, o Lindinho do Castelo, e ultimamente, nos fatos do crime, tornaram-se célebres dois homens, Carlito e Cardosinho, só temidos em toda a cidade, cheia de Cardosinhos e de Carlitos, porque eram o Carlito e o Cardosinho da Saúde. Direis que é uma observação puramente local? Não, cem vezes não! Em Paris, a Ville-Lumière, os bandos de assassinos tomam freqüentemente o nome da rua onde se organizaram; em Londres há ruas dos bairros trágicos com esse predomínio, e na própria história de Bizâncio haveis de encontrar ruas tão guerreiras que os seus habitantes as juntavam ao nome como um distintivo.
E assim os tipos populares.
Tive o prazer de conhecer dois desses tipos, em que mais vivamente se exteriorizava a influência psicológica da rua: o Pai da Criança e a Perereca.
O Pai da Criança estava deslocado, na decadência. Esse ser repugnante nascera como uma depravação da Rua do Ouvidor. Quando o vi doente, nas tascas da Rua Frei Caneca, como já não estava na sua rua, não era mais notável. Os garotos já não riam dele, ninguém o seguia, e o nojento sujeito conversava nas bodegas, como qualquer mortal, da gatunice dos governos. Só fui descobrir a sua celebridade quando o vi em plena Ouvidor, cheio de fitas, vaiado, cuspindo insolências, inconcebível de descaro e de náusea. A Perereca, ao contrário. Na Rua do Ouvidor seria apenas uma preta velha. Na Rua Frei Caneca era o regalo, o delírio, a extravagância. Os malandrins corriam-lhe ao encalço atirando-lhe pedras, os negociantes chegavam às portas, todas as janelas iluminavam-se de gargalhadas. E por quê? Porque esses tipos são o riso das ruas e assim como não há duas pessoas que riam do mesmo modo não há duas ruas cujo riso seja o mesmo.
Se a rua é para o homem urbano o que a estrada foi para o homem social, é claro que a preocupação maior, a associada a todas as outras idéias do ser das cidades, é a rua. Nós pensamos sempre na rua. Desde os mais tenros anos ela resume para o homem todos os ideais, os mais confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, desde a noção de liberdade e de difamação – idéias gerais – até a aspiração de dinheiro, de alegria e de amor, idéias particulares. Instintivamente, quando a criança começa a engatinhar, só tem um desejo: ir para a rua! Ainda não fala e já a assustam: se você for para a rua encontra o bicho! Se você sair apanha palmadas! Qual! Não há nada! É pilhar um portão aberto que o petiz não se lembra mais de bichos nem de pancadas!
Sair só é a única preocupação das crianças até uma certa idade. Depois continuar a sair só. E quando já para nós esse prazer se usou, a rua é a nossa própria existência. Nela se fazem negócios, nela se fala mal do próximo, nela mudam as idéias e as convicções, nela surgem as dores e os desgostos, nela sente o homem a maior emoção.
Quando se encontra o amor Na rua, sem o saber…
– Ponho-o no olho da rua! brada o pai ao filho no auge da fúria.
Aí está a rua como expressão da maior calamidade.
– Você está em casa, venha para a rua se é gente!
Aí temos a rua indicando sítio livre para a valentia a substituir o campo de torneio medieval.
– É mais deslavado que as pedras da rua!
Frase em que se exprime uma sem-vergonhice inconcebível.
– É mais velho que uma rua!
Conceito talvez errado porque há ruas que morrem moças.
Às vezes até a rua é a arma que fere e serve de elogio conforme a opinião que dela se tem.
– Ah! minha amiga! Meu filho é muito comportado. Já vai à rua sozinho…
– Ah! meninas, o filho de d. Alice está perdido! Pois se até anda sozinho na rua!
E a rua, impassível, é o mistério, o escândalo, o terror…
Os políticos vivem no meio da rua aqui, na China, em Tombuctu, na França; os presidentes de república, os reis, os papas, no pavor de uma surpresa da rua – a bomba, a revolta; os chefes de polícia são os alucinados permanentes das ruas; todos quantos querem subir, galgar a inútil e movediça montanha da glória, anseiam pelo juízo da rua, pela aprovação da via pública, e há na patologia nervosa uma vasta parte em que se trata apenas das moléstias produzidas pela rua, desde a neurastenia até à loucura furiosa. E que a rua chega a ser a obsessão em que se condensam todas as nossas ambições. O homem, no desejo de ganhar a vida com mais abundância ou maior celebridade, precisava interessar à rua. Começou pois fazendo discursos em plena ágora, discursos que, desde os tempos mais remotos aos meetings contemporâneos da estátua de José Bonifácio, falam sempre de coisas altivas, generosas e nobres. Um belo dia, a rua proclamou a excelente verdade: que as palavras leva-as o vento. Logo, nós assustados, imaginamos o homem-sandwich, o cartaz ambulante; mandamos pregar-lhe, enquanto dorme, com muita goma e muita ingenuidade, os cartazes proclamando a melhor conserva, o doce mais gostoso, o ideal político mais austero, o vinho mais generoso, não só em letras impressas mas com figuras alegóricas, para poupar-lhe o trabalho de ler, para acariciar-lhe a ignorância, para alegrá-la. Como se não bastassem o cartaz, a lanterna mágica, o homem-sandwich, desveladamente, aos poucos, resolvemos compor-lhe a história e fizemos o jornal – esse formidável folhetim-romance permanente, composto de verdades, mentiras, lisonjas, insultos e da fantasia dos Gaboriau que somos todos nós…
Há uma estética da rua, afirmou Bulls. Sim. Há. Porque as atrizes de fama, os oradores mais populares, os hércules mais cheios de força, os produtos mais evidentes dos blocos comerciais, vivem de procurar agradá-la. Desse orgulho transitório surgiu para a rua a glória policroma da arte. O temor de serem esquecidos criou para cada uma a roupagem variada, encheu-as como Melusinas de pedra, como fadas cruéis que se teme e se satisfaz, de vestidos múltiplos, de cores variegadas, de fanfreluches de papel, da ardência fulgurante das montras de cambiantes luzentes; deu-lhes uma perpétua apoteose de sacrifício à espera do milagre do lucro ou da popularidade. A estética, a ornamentação das ruas, é o resultado do respeito e do medo que lhes temos…
No espírito humano a rua chega a ser uma imagem que se liga a todos os sentimentos e serve para todas as comparações. Basta percorrer a poesia anônima para constatar a flagrante verdade. É quase sempre na rua que se fala mal do próximo. Folheemos uma coleção de fados. Lá está a idéia:
Adeus, ó Rua Direita
Ó Rua da Murmuração.
Onde se faz audiência
Sem juiz nem escrivão.
Aliás muito tímida, como devendo ser cantada por quem tem culpa no cartório. Mas, se um apaixonado quer descrever o seu peito, só encontra uma comparação perfeita.
O meu peito é uma rua
Onde o meu bem nunca passa,
É a rua da amargura
Onde passeia a desgraça.
Se sente o apetite de descrever, os espécimens são sem conta.
Na rua do meu amor
Não se pode namorar:
De dia, velhas à porta,
De noite, cães a ladrar.
E é suave lembrar aquele sonhador que, defronte da janela da amada e desejando realizar o impossível para lhe ser agradável, só pôde sussurrar esta vontade meiga:
Se esta rua fosse minha
Eu mandava ladrilhar
De pedrinhas de brilhante
Para meu bem passar.
O povo observa também, e diz mais numa quadra do que todos nós a armar o efeito de períodos brilhantes. Sempre recordarei um tocador de violão a cantar com lágrimas na voz como diante do inexorável destino:
Vista Alegre é rua morta
A Formosa é feia e brava
A Rua Direita é torta
A do Sabão não se lava…
Toda a psicologia das construções e do alinhamento em quatro versos! A rua chega a preocupar os loucos. Nos hospícios, onde esses cavalheiros andam doidos por se ver cá fora, encontrei planos de ruas ideais, cantores de rua, e um deles mesmo chegou a entregar-me um longo poema que começava assim:
A rua…
Cumprida, cumprida, atua…
Olê! complicada, complicada, alua
A rua
Nua!
Essa idéia reflete-se nas religiões, nos livros sagrados, na arte de todos os tempos, cada vez mais afiada, cada vez mais sensível. Na literatura atual a rua é a inspiração dos grandes artistas, desde Victor Hugo, Balzac e Dickens, até às epopéias de Zola, desde o funambulismo de Banville até o humorismo de Mark Twain. Não há um escritor moderno que não tenha cantado a rua. Os sonhadores levam mesmo a exagerá-la, e hoje, devido certamente à corrente socialista, há toda uma literatura em que a alma das ruas soluça. Os poetas refinados levam a mórbida inspiração a cantar os aspectos parciais da rua. Como os românticos cantavam os pés, os olhos, a boca e outras partes do corpo das apaixonadas, eles cantam o semblante das casas vazias, os revérberos de gás como Rodenbach:
Le dimanche, en semaine, et par tous les temps
L’un est debout, un autre, il semble, s’agenouille.
Et chacun se sent seul comme dans une foule.
Les revérbéres des banlieues
Sont des cages oú des oiseaux déplient leurs queues.
Os pregões, as calçadas, e houve até um – Mário Pederneiras –que nos deu a sutilíssima e admirável psicologia das árvores urbanas:
Com que magoado encanto
Com que triste saudade
Sobre mim atua
Esta estranha feição das árvores da rua.
E elas são, entretanto,
A única ilusão rural de uma cidade!
As árvores urbanas
São, em geral, conselheiras e frias
Sem as grandes expansões e as grandes alegrias
Das provincianas.
Não têm sequer os plácidos carinhos
Dessas largas manhãs provinciais e enxutas.
Nem a orquestra dos ninhos
Nem a graça vegetal das frutas.
Os artistas modernos já não se limitam a exprimir os aspectos proteiformes da rua, a analisar traço por traço o perfil físico e moral de cada rua. Vão mais longe, sonham a rua ideal, como sonharam um mundo melhor. Williams Morris, por exemplo, imaginou nas Novelas de parte alguma a rua socialista e rara, com edifícios magníficos, sem mendigos e sem dinheiro. Rimbaud, nas Illuminations, teve a idéia da rua babélica, reproduzindo nos edifícios, sob o céu cinzento, todas as maravilhas clássicas da arquitetura. Bellamy, no Locking Bockward, já sonhava o agrupamento dos grandes armazéns; e hoje, entre essas ruas de sonho, que Gustavo Khan considera as ruas utópicas e que talvez se tornem realidade um dia, é o estranho e infernal sulco descrito por Wells na História dos tempos futuros, rua em que tudo dependerá de sindicatos formidáveis, em que tudo será elétrico, em que os homens, escravos de meia dúzia, serão como os elos de uma mesma corrente arrastados pelo trabalho através dos casarões.
Mas, a quem não fará sonhar a rua? A sua influência é fatal na palheta dos pintores, na alma dos poetas, no cérebro das multidões. Quem criou o reclamo? A rua! Quem inventou a caricatura! A rua! Onde a expansão de todos os sentimentos da cidade? Na rua! Por isso para dar a expressão da dor funda, o grande poeta Bilac fez um dia:
A Avenida assombrada e triste da saudade
Onde vem passear a procissão chorosa
Dos órfãos do carinho e da felicidade.
E certo poeta árabe, reconhecendo com a presciência dos vates que só a rua nos pode dar a expressão do sofrimento absoluto como da alegria completa, escreveu a celebrada Praça do riso ao nascer da aurora; o riso de cristal das crianças, o riso perlado das mulheres, o riso grave dos homens a formar um conjunto de tanta harmonia que as árvores também riam no canto dos pássaros, e a própria umbela azul do céu se estriava d’ouro no imenso riso do sol..
Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua um ser vivo, tão poderoso que consegue modificar o homem insensivelmente e fazê-lo o seu perpétuo escravo delirante, e mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana mais forte e mais intenso. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento: criou um símbolo universal. Há ainda uma rua, construída na imaginação e na dor, rua abjeta e má, detestável e detestada, cuja travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um doloroso arrastar pelo enxurro de uma cidade e de um povo. Todos acotovelam-se e vociferam aí, todos, vindos da Rua da Alegria ou da Rua da Paz, atravessando as betesgas do Saco do Alferes ou descendo de automóvel dos bairros civilizados, encontram-se aí e aí se arrastam, em lamentações, em soluços, em ódio à vida e ao Mundo. No traçado das cidades ela não se ostenta com as suas imprecações e os seus rancores. É uma rua esconsa e negra, perdida na treva, com palácios de dor e choupanas de pranto, cuja existência se conhece não por um letreiro à esquina, mas por uma vaga apreensão, um irredutível sentimento de angústia, cuja travessia não se pode jamais evitar. Correi os mapas de Atenas, de Roma, de Nínive ou de Babilônia, o mapa das cidades mortas. Termas, canais, fontes, jardins suspensos, lugares onde se fez negócio, onde se amou, lugares onde se se cultuaram os deuses – tudo desapareceu. Olhai o mapa das cidades modernas. De século em século a transformação é quase radical. As ruas são perecíveis como os homens. A outra, porém, essa horrível rua de todos conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos, essa é eterna como o medo, a infâmia, a inveja. Quando Jerusalém fulgia no seu máximo esplendor, já ela lá existia. Enquanto em Atenas artistas e guerreiros recebiam ovações, enquanto em Roma a multidão aplaudia os gladiadores triunfais e os césares devassos, na rua aflitiva cuspinhava o opróbrio e chorava a inocência. Cartago tinha uma rua assim, e ainda hoje Paris, New York, Berlim a têm, cortando a sua alegria, empanando o seu brilho, enegrecendo todos os triunfos e todas as belezas. Qual de vós não quebrou, inesperadamente, o ângulo em arestas dessa rua? Se chorastes, se sofrestes a calúnia, se vos sentistes ferido pela maledicência, podereis ter a certeza de que entrastes na obscura via! Ah! Não procureis evita-la! Jamais o conseguireis. Quanto mais se procura dela sair mais dentro dela se sofre. E não espereis nunca que o mundo melhore enquanto ela existir. Não é uma rua onde sofrem apenas alguns entes, é a rua interminável, que atravessa cidades, países, continentes, vai de pólo a pólo; em que se alanceiam todos os ideais, em que se insultam todas as verdades, onde sofreu Epaminondas e pela qual Jesus passou. Talvez que extinto o mundo, apagados todos os astros, feito o universo treva, talvez ela ainda exista, e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína, rua das lágrimas, rua do desespero – interminável rua da Amargura.